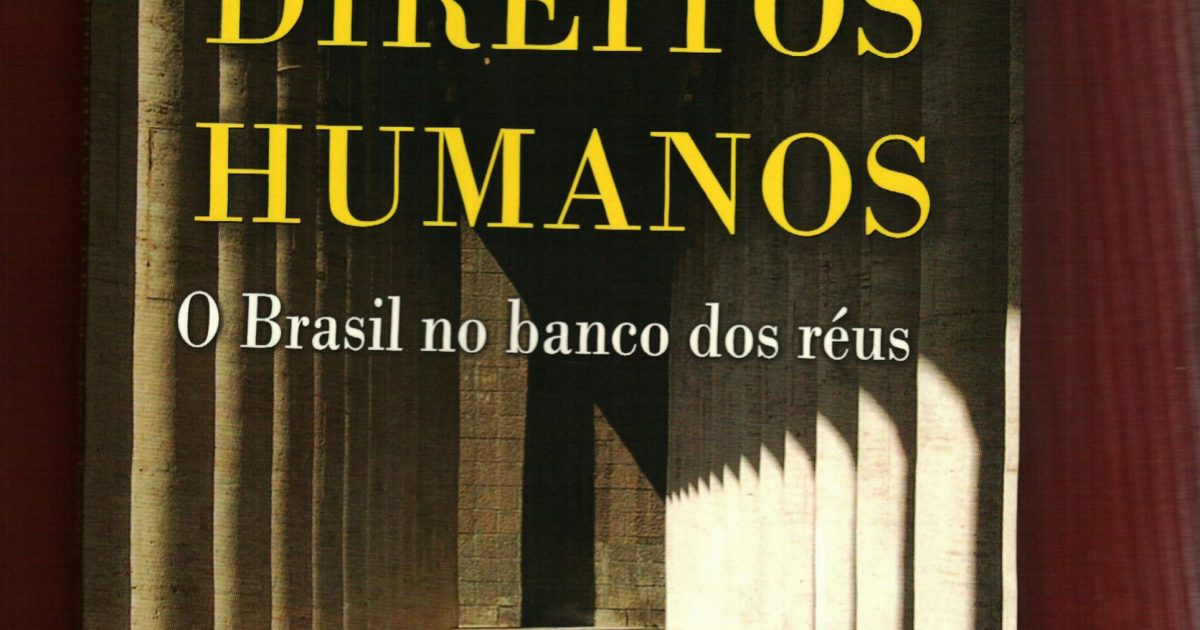Veja, abaixo, a íntegra de um capítulo do livro “Direitos Humanos: O Brasil no banco dos réus”, fruto do trabalho de conclusão de curso da Luciana Genro.
Por Luciana Genro
PARTE 3: A AUTO-ANISTIA E A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL
Este capítulo se inicia com um breve relato das circunstâncias históricas nas quais a lei da anistia foi aprovada, buscando situar o leitor na conjuntura política da época, bem como dos debates travados na sociedade e no Parlamento. A anistia foi bandeira de luta dos democratas da época, cujo objetivo era anistiar os resistentes ao regime militar. Demonstra-se que esta lei, ao contrário do que afirma uma determinada versão da história da época, não surgiu no bojo de um processo de abertura tranqüila, em um momento em que a ditadura não mais operava de forma violenta, ensejando a realização de um grande acordo político em torna da lei. Os fatos históricos demonstram, pelo contrário, que os anos imediatamente anteriores à aprovação da lei, e o próprio ano de 1979, foram marcados pela violência e pela vigência plena da ditadura. Qualquer acordo que pudesse eventualmente ocorrer, nestas circunstâncias, estaria marcado de forma indelével pela falta de legitimidade.
A seguir é apresentada a luta da sociedade brasileira por Verdade e Justiça e como a Lei da Anistia tornou-se um obstáculo para que este objetivo seja atingido. Demonstraremos as iniciativas da sociedade e dos governos em termos de Justiça de Transição no Brasil, os resultados obtidos e os pontos ainda em aberto para que se complete a transição brasileira com o resgate da Verdade e a realização da Justiça. Por fim, descreve-se a disputa ocorrida no Supremo Tribunal Federal em torno da interpretação da lei.
3.1 – A luta pela anistia e a imposição da autoanistia
O governo do Presidente João Goulart foi deposto por um golpe militar em 31 de março de 1964, que instituiu um regime ditatorial marcado pelas perseguições aos resistentes através de prisões arbitrárias, tortura, desaparecimentos, exílio e mortes . Foi um regime de violações sistemáticas aos direitos humanos no qual toda a população esteve submetida ao silêncio e qualquer oposição era perseguida. Agentes do Estado prendiam, torturavam, executavam e desapareciam com aqueles que ousavam desafiar a repressão, cometendo, assim, verdadeiros crimes contra a humanidade.
A Doutrina de Segurança Nacional foi o fundamento conceitual da suspensão dos direitos e garantias e da repressão política. Idealizada pelo General Golbery do Couto e Silva, esta doutrina sustentava que o inimigo a ser combatido era interno, e não mais externo. Para isso seria necessário criar um aparelho repressivo que fosse capaz de enfrentar esta “guerra”, conceito utilizado em larga escala para submeter os presos à Justiça Militar. Cerca de 50 mil pessoas foram detidas nos primeiros meses da ditadura.
Um aparelho de repressão, que se tornou um “verdadeiro poder paralelo” foi constituído pelo regime para proteger os seus agentes e garantir que eles pudessem atuar livremente na repressão . Os primeiros Atos Institucionais criaram o estado de exceção, cassando mandatos eletivos, suspendendo direitos políticos, instituindo a censura e promovendo prisões. Em 1967 uma nova Constituição foi imposta mas até o final do ano de 1968 a resistência democrática prosseguiu . Esta resistência foi capitaneada, fundamentalmente, pelo movimento estudantil e pela Igreja católica progressista. O povo, de um modo geral ,esteve praticamente ausente neste primeiro momento da luta.
A morte do estudante Edson Luís de Lima Souto, em uma mobilização por melhor alimentação no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, despertou setores mais amplos para a realidade da repressão. Mais de 50 mil pessoas foram às ruas no seu funeral e sucederam-se manifestações por todo o país, mas principalmente no Rio de Janeiro. Nos confrontos da sexta feira anterior à passeata que ficou conhecida como “passeata dos 100 mil”, morreu um policial e calculam-se em até 17 os mortos civis.
Três meses depois da morte de Edson Luís a “passeata dos 100 mil” tornou-se um marco na luta contra a ditadura. Entretanto a repressão se intensificou e outras mortes em manifestações já não tem o mesmo impacto. A prisão de 700 líderes do movimento estudantil no Congresso da UNE, em Ibiúna, foi um golpe mortal em um movimento que já estava enfraquecido pela impotência diante do regime .
Um discurso do deputado Márcio Moreira Alves classificando o regime como um “valhacouto de torturadores” acabou sendo o pretexto para o que ficou conhecido como golpe dentro do golpe: o Ato Institucional nº5. Este Ato modificou a constituição de 1967, dando poderes ilimitados ao Presidente da República, inclusive de fechar e reabrir o Congresso, decretar intervenção nos Estados, suspender direitos políticos e prorrogar o estado de sítio indefinidamente. Foi a consolidação do poder hegemônico da linha dura dentro do regime.
A partir deste momento, a repressão recrudesceu. Um documento encontrado nos arquivos do DOPS do Paraná pela professora Derley Catarina de Luca chamado de “Manual de Interrogatório”, não deixa dúvidas de que a tortura não era um fato isolado praticado por alguns, mas sim uma orientação oficial. Diz o documento: “Uma agência de contra-informação não é um Tribunal de Justiça. Ela existe para obter informações sobre as possibilidades, métodos e intenções de grupos hostis ou subversivos, a fim de proteger o Estado contra seus ataques. Disso se conclui que o objetivo de um interrogatório de subversivos não é fornecer dados para a Justiça Criminal processá-los; seu objetivo é obter o máximo possível de informações. Para conseguir isso será necessário, frequentemente, recorrer à violência. É assaz importante que isto seja muito bem entendido por todos aqueles que lidam com o problema, para que o interrogador não venha a ser inquietado para observar as regras estritas do direito”. (grifo meu)
Sufocada pela repressão e pela falta de canais institucionais pelos quais pudesse se expressar, a esquerda pega em armas. Em 1970 havia 500 presos políticos no país, a maioria composta de jovens estudantes . As denúncias de torturas tornam-se cada vez mais numerosas e acabam por repercutir internacionalmente levando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a pedir, sem sucesso, autorização do governo para investigar.As autoridades seguiam negando a existência de tortura, alegando que ela seria uma campanha da oposição, uma opinião e não um fato real. Ainda em 1970 a Anistia Internacional publicou, em Londres, um relatório apontando 1081 vítimas de tortura no Brasil.
O alvo preferencial do “terror de Estado” eram os grupos armados. A guerrilha do Araguaia, organizada pelo Partido Comunista do Brasil, foi violentamente dizimada e os corpos de muitos dos guerrilheiros executados até hoje estão desaparecidos. Mas as organizações clandestinas que não tinham aderido à luta armada também foram perseguidas e reprimidas, centenas de dirigentes políticos foram presos, torturados e alguns mortos. Os desaparecimentos políticos tornam-se método corrente, evitando desta forma que o regime reconhecesse as mortes nas prisões ou as execuções sumárias. O resultado foram 354 mortos e desaparecidos políticos e 20 mil pessoas submetidas à tortura.
Nas eleições de 1974 começa a expressar-se a insatisfação popular com o regime. O MDB, único partido de oposição legalizado, obtém uma vitória expressiva. O assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 1975, nas dependências do DOI-CODI, em São Paulo, trouxe à tona a realidade da tortura. A viúva, Clarice Herzog, não aceitou a versão oficial de suicídio e com o apoio da OAB , da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, e da ABI entrou com uma ação contra o governo, fazendo uma intensa denúncia e reivindicando investigações. Este fato, aliado ainda à morte do metalúrgico Manoel Fiel Filho no mesmo local, poucos meses depois, fez crescer a mobilização social. Em 1975 surgiu o Movimento Feminino pela Anistia, composto por familiares de presos políticos, exilados e desaparecidos.
Foi neste contexto de resistência e denúncia das atrocidades cometidas pelo regime que nasceu o Movimento Feminino pela Anistia, encabeçado por Therezinha Zerbini, precursor do Comitê Brasileiro pela Anistia, lançado no Rio de Janeiro em 1978. O ato de fundação do Comitê contou com a presença do General Peri Beviláqua, que fora um dos líderes do golpe de 64. Esta presença era um sintoma da crise em que já se encontrava o regime, que o Presidente Geisel tentava contornar com a chamada abertura lenta, gradual e segura.
No fim deste mesmo ano acontece o I Congresso Nacional pela Anistia, promovido pela OAB, CNBB, ABI e SBPC no qual foi lançado um Manifesto à Nação que exigia: anistia; liberdade para todos os presos e perseguidos políticos; volta de todos os exilados e banidos; recuperação dos direitos políticos de quem os teve cassados ou suspensos; fim das torturas e da legislação de exceção.
O governo já não podia ignorar o movimento. Tentou, então, apropriar-se dele disseminando a idéia de que a anistia – restrita – era um passo natural dado por livre e espontânea vontade do governo, e não fruto da pressão da sociedade.
Muito embora o governo tentasse transmitir a idéia de uma abertura voluntária e pacífica, a violência do regime seguia de forma intensa. Entre 1977 e 1981 cerca de 100 atentados ocorreram impunemente . Em 01 de abril de 1977 o governo fechou o Congresso, através de um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como “pacote de abril” e só voltou a reabri-lo, em meio a intensificação da censura e de cassações de mandatos, após assegurar as mudanças que deveriam garantir a vitória da ARENA nas eleições.
No final do ano de 1978, estava ainda em pleno vigor a Operação Condor – um conjunto de operações levadas à cabo de forma articulada pelas ditaduras latino-americanas – e os uruguaios Lilian Celiberti e Universindo dias são seqüestrados em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Os Atos Institucionais são extintos, em outubro de 1978, entretanto uma nova Lei de Segurança Nacional é aprovada, concentrando poderes de forma inédita nas mãos do general Geisel . Mesmo com todas as medidas tomadas para evitar uma derrota eleitoral, o regime não conseguiu evitar o fortalecimento significativo do MDB nas eleições de 1978.
Neste cenário, em 27 de julho de 1979 o Presidente João Batista Figueiredo assinou o projeto que daria origem à Lei da Anistia. Na sua elaboração, sequer os parlamentares da ARENA puderam opinar . A partir deste momento a oposição passou não mais a exigir a anistia , mas a denunciar as limitações do projeto , seguindo a luta para que a anistia fosse ampla geral e irrestrita. Pela proposta do governo, os já condenados por crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal estariam excluídos do benefício.
Além desta limitação, parágrafo 1º do artigo 1º incluiu uma definição de “crimes conexos”, na qual caberiam todos os crimes comuns cometidos pelos agentes da repressão. Uma verdadeira auto-anistia que possibilitou ao regime garantir a impunidade dos torturadores sem precisar reconhecer a existência da tortura.
No Congresso Nacional o projeto passou a ser analisado por uma Comissão Mista, composta por Senadores e Deputados Federais, cuja presidência ficou à cargo do Senador Teotônio Vilela, oriundo da Arena mas naquele momento já filiado ao MDB, e a relatoria com o Senador Ernani Satyro, da Arena. Neste momento os presos políticos entraram em greve de fome, reivindicando a anistia ampla, geral e irrestrita e denunciando que a lei estava a garantir uma irrestrita e prévia anistia aos torturadores.
A oposição articulou uma emenda, encabeçada por Ulisses Guimarães, presidente do MDB, no qual propunham a anistia para todos, inclusive para os participantes da luta armada e a rejeição explícita a anistia recíproca. A emenda foi, entretanto, rejeitada na Comissão Mista por 13 votos a 8, em favor do substitutivo do Relator, que mantinha praticamente intacto o projeto do governo.
Em 21 de agosto de 1979, em sessão conjunta do Congresso Nacional, teve início o debate e a votação do projeto. O primeiro pronunciamento daquela sessão foi do deputado Edson Khair ( MDB/RJ) no qual ele denunciou a falta de legitimidade do Congresso para votar o projeto que o governo pretendia impor pois aquele Congresso, que já tinha aceitado os Senadores biônicos, estava aceitando todas as limitações impostas pelo governo. O deputado Marcello Cerqueira, também do MDB/RJ, classificou o projeto do governo como “iníquo e mesquinho” ( ata pag 19) e que tinha como objetivo dividir a oposição. O deputado João Gilberto ( MDB/RS) ressaltou que a anistia era fruto da luta popular, uma luta que custou sangue, suor, lágrimas, exílio, cadeia e cassetetes . Ainda nesta mesma sessão o deputado Elquisson Soares do MDB/BA afirmou que eram os torturadores os principais beneficiados com o projeto do governo.
Enquanto os deputados discursavam várias manifestações populares aconteciam, tanto em Brasília como em outras capitais. As galerias do Congresso chegaram a ser ocupadas por 700 soldados da polícia da Aeronáutica. A tensão era grande entre os parlamentares.
Na sessão do dia 22 de agosto, na qual o projeto acabou aprovado, o deputado Airton Soares, do MDB/SP retratou de forma eloqüente a situação vivida pelo país: “ vieram familiares, democratas de todo o Brasil apelar para uma democracia para todos, apelar para uma anistia irrestrita, e vieram Sr. Presidente, aqueles que vieram defender a anistia só para si, a anistia para aquela parte do projeto que poupa todos aqueles que cometeram crimes dentro dos órgãos de segurança e atrocidades contra os presos políticos. (…) por que na maior parte dos casos tem interesse em não ver investigada a sua ação no aparelho de Estado, não querem saber de se apurarem as torturas praticadas nos escaninhos dos órgãos de segurança (…)” ele disse ainda que “não podemos concordar com este projeto e todo o MDB se manifestou contra. Não vamos participar de farsa alguma montada por um regime que até então torturava e hoje usa outras maneiros de se afirmar no poder”.
O deputado Jorge Uequed, do MDB do RS, denunciou que o governo tinha total controle sobre o Congresso e portanto condições de aprovar o projeto nos seus termos: “Aqui nesta Casa, o projeto vai ser aprovado como o governo quer! Sim, por que o governo conhece as suas lideranças da ARENA, ele as tem na mão, quase que totalmente. São raras as exceções que votam a favor do povo e contra os interesses do governo. No Senado, o povo quase não tem representação decisiva, por que o governo nomeou os biônicos, com isso os tem presos à sua mão.”
Por fim, a fala do Presidente da Comissão Especial que havia analisado o projeto, Senador Teotônio Villela, demonstrou de forma evidente a imposição do projeto a um Congresso sitiado: “ A oposição procurou, de V.Exa a todas as lideranças, meios de um entendimento. Tudo nos foi negado, até a humildade honrada de pedir para insistir. Está selado o destino, Os jornais hoje publicam. Não havia necessidade mais desse formalismo. (…)Criaram uma voz mais grossa e mais elevada do que a voz do Sr. Relator, a voz das bombas que ontem vieram atingir-nos na porta do Congresso Nacional. E não precisava Sr. Presidente não precisava de maneira nenhuma, de votação. Bastam os pelotões que lotam essas galerias. Estas são as circunstâncias, Srs. Congressistas, em que estamos votando”.
Em uma votação preliminar o substitutivo do MDB foi derrotado, e a aprovação do substitutivo do Relator aconteceu sem votação nominal, apenas com os votos dos líderes. “Este foi, portanto, o ‘acordo’ no qual a sociedade ‘falou altissonante’. Não havia possibilidade de qualquer tipo de barganha ou jogo de influências que conseguisse afastar a intenção do governo de se auto-anistiar ou de restringir a anistia aos perseguidos políticos. Caso ocorresse a improvável conversão de um número maior de deputados arenistas, das duas uma: ou o senado biônico reverteria o resultado ou o ditador Figueiredo simplesmente vetaria o resultado na sua totalidade. Afinal, que acordo foi este?”.
Evidentemente que a Lei 6683/79 foi considerada como um inegável avanço pois beneficiou cerca de cinco mil pessoas atingidas de diferentes formas pela repressão. Entretanto grande parte das reivindicações daqueles que lutaram por ela não foram contempladas: não anistiou os condenados por atentados e seqüestros e não propiciou a libertação dos presos enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Além disso, abriu o caminho para barrar a investigação e punição dos agentes públicos envolvidos com a tortura e os desaparecimentos políticos.
O principal objeto da polêmica, que até hoje subsiste, é o parágrafo 1º do artigo 1º pois o objetivo declarado da lei era anistiar os opositores políticos, mas este dispositivo incluído tinha o objetivo, não declarado, de anistiar também os agentes públicos que, sob o pretexto de defender o regime, mataram, torturaram e violentaram os opositores, perpetrando, na verdade, crimes comuns que não poderiam ser abrangidos pela anistia. O regime não reconhecia a prática da tortura, por isso o debate sobre a inclusão dos agentes públicos que promoveram violações dos direitos humanos não foi feito abertamente. Além disso, como se pode concluir pela narrativa da aprovação da lei, ela foi uma auto-anistia, pois no momento da sua aprovação o regime ainda detinha total controle do Congresso, e a sociedade permanecia amordaçada pela censura e pela repressão política. Decorre destes fatos o questionamento sobre a validade deste dispositivo à luz na Constituição de 1988 e das normas de direito internacional que analisaremos mais adiante. O debate em torno da lei e a luta para que ela não seja um óbice para a verdade e a justiça prosseguem até hoje.
Se para muitos a anistia brasileira foi entendida como um processo de esquecimento e conciliação, para outros tantos a anistia era vista como uma oportunidade para investigar e questionar o passado.
Depois da aprovação da lei, seguiu-se a luta pela libertação dos presos não beneficiados pela anistia. A batalha contra o esquecimento e a impunidade estava apenas começando. Em 1985, quando da descoberta de que um ex torturador iria ocupar um cargo de destaque no Corpo de Bombeiros do RJ, intensificou-se a discussão sobre os limites do perdão concedido aos torturadores do regime militar e surgiu no RJ o Grupo Tortura Nunca Mais, com o desafio de resgatar a história das torturas e dos desaparecimentos durante a repressão. Arquidiocese de São Paulo publicou o livro Brasil Nunca Mais, organizado por Dom Paulo Evaristo Arns, que se transformou em um grande fato político. Um verdadeiro registro oficial das denúncias de torturas, dos nomes dos presos que passaram pela Justiça Militar e dos casos em que alguém testemunhou a morte de um ativista ou prisioneiro. Logo em seguida a mesma Arquidiocese divulgou uma lista com 444 nomes de torturadores, e assim descobriu-se que vários deles ainda ocupavam cargos importantes em diversas esferas de poder.
Em 1990 foram encontradas 1049 ossadas em uma vala clandestina no cemitério de Perús, e pelo menos 6 foram identificadas como de presos políticos. 12 anos depois da aprovação da Lei da Anistia foi criada uma Comissão de Representação Externa da Câmara dos Deputados, para busca dos desaparecidos políticos. A Comissão, que durou até 1994, ouviu militares, familiares dos desaparecidos, colocou o assunto na pauta política do país e fez algumas descobertas importantes : obteve da Marinha a confirmação da existência de arquivos referentes ao período da guerrilha do Araguaia, e conseguiu localizar os restos mortais de um desaparecido. Uma das lutas mais importantes travadas naquele momento era pelo reconhecimento oficial das mortes dos 144 desaparecidos. Um dossiê chegou a ser elaborado pela Comissão de Mortos e Desaparecidos políticos e pelo Grupo Tortura Nunca Mais, reunindo dados sobre 357 mortos e desaparecidos políticos.
O Secretário Geral da Anistia Internacional, Pierre Sané, visitou o Brasil em abril de 1994, e fez duras críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso dizendo que o presidente brasileiro “parecia não entender que o crime cometido contra os desaparecidos é um crime que não prescreve.” Em 23 de maio o Ministério da Justiça anunciou que o Estado havia decidido reconhecer a morte dos desaparecidos e pagar uma indenização a seus familiares. Nascia ali a Lei dos Desaparecidos (9140/95). Ela foi considerada restritiva pelos familiares dos mortos e desaparecidos políticos, pois não possibilitava uma investigação para que fossem identificados os responsáveis pelas mortes e desparecimentos.
}
De fato, a apuração das responsabilidades seguiria proibida. “Há uma anistia, que significa esquecimento, indulgência. Revolver esses casos certamente vai colocar em xeque o efeito dessa anistia. Se por um lado se entende o que as famílias desejam, por outro lado isso não seria benéfico para o clima de união” é o que disse o General Alberto Cardozo, Chefe da Casa Militar do governo FHC. Embora nunca admitissem oficialmente que torturas e assassinatos teriam ocorrido durante o seu regime, os militares seguiam exigindo a impunidade aos torturadores.
A luta pela implementação de políticas de justiça de transição ficou, por muitos anos, nas mãos dos movimentos de familiares de mortos e desaparecidos e dos grupos Tortura Nunca Mais do RJ e SP, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, entre outros.
A luta era centrada na busca pela localização dos restos mortais dos desaparecidos e pela reparação às vítimas sobreviventes e aos familiares dos mortos e desaparecidos. A partir da aprovação da Lei 10.559/2002, prevendo a criação da Comissão de Anistia, surgem outros movimentos que buscam o direito de reparação e novas organizações que ajudam a ampliar a pauta da Justiça de Transição em torno da responsabilização dos torturadores e da criação da Comissão da Verdade.
3.2 – O desenvolvimento da Justiça de Transição no Brasil
A situação do Brasil no que diz respeito à Justiça Transicional é a pior da América Latina. A Lei da Anistia ( lei 6683/79), surgida após longos anos de intensa mobilização acabou sendo utilizada como uma imposição do esquecimento das torturas, desaparecimentos e assassinatos. Enquanto todos os países do Mercosul desenvolveram algum nível de investigação e de responsabilização criminal dos autores de violações, o Brasil não fez nem uma coisa nem outra.
A pesquisa realizada por Kathriyn Sikkink e Carrie Booth Walling, do departamento de Ciência Política da Universidade de Minnesota, demonstra que este atraso comparativo do Brasil vai além das fronteiras do Mercosul. As pesquisadoras analisaram dados de um período de 26 anos, abrangendo 192 países e territórios. Destes, 34 países utilizaram comissões da verdade e 49 realizaram pelo menos um julgamento de transição. Mecanismos múltiplos de justiça de transição foram utilizados em um caso. Junto com as Comissões da Verdade, em dois terços dos países analisados também aconteceram julgamentos. Nas Américas foram todos. O Brasil, segundo a pesquisa, está isolado no contexto latino americano pelo fato de ter editado uma lei de anistia e esta ter evitado qualquer julgamento. Na América Latina como um todo, as leis de anistia não conseguiram barrar os julgamentos, muito embora elas tenham sido utilizadas em 16 dos 19 países da América Latina que passaram por um processo de transição. Também há casos em que estes dois processos ocorreram apesar da concessão de anistias. Somente no Brasil a anistia atingiu o objetivo de impedir os julgamentos.
A repressão política no Brasil foi fortemente judicializada e funcionou através de um sistema que fundiu as elites militares e judiciárias numa cooperação que preservou um alto grau de consenso entre as duas corporações. Esta fusão propiciou uma preocupação maior do regime com a legalidade formal, em comparação com a Argentina, por exemplo. No Brasil a razão entre os processados em tribunais militares e os mortos extrajudicialmente foi de 23/1 ( para cada 23 processados, 1 morto extrajudicialmente) enquanto na Argentina foi de 1/71 ( para cada 1 processado, 71 mortos extrajudicialmente). Esta integração entre as forças armadas e o judiciário também trouxe consequências no tipo de transição política e no desenvolvimento posterior da justiça de transição no Brasil. O status quo dos poderosos da ditadura foi preservado, e as medidas de instauração de uma justiça transicional foram mínimas. A própria transição foi marcada por esta preservação. Apesar da multitudinária campanha por eleições diretas, a proposta foi derrotada no Congresso e o presidente foi eleito indiretamente. O processo foi controlado e dominado pelas elites, que garantiram que as organizações conservadoras do judiciário e das forças armadas mantivessem-se intocadas após a transição. Símbolo maior deste processo é o Senador José Sarney. Ele foi um político da base de apoio do regime ditatorial, tendo rompido com o regime no apagar das luzes, e na condição de vice presidente eleito pelo Congresso, com a morte do titular, Tancredo Neves, acabou por ser o primeiro presidente após a redemocratização. Em 2003 aderiu ao governo Lula e foi apoiado pelo PT para assumir a Presidência do Congresso Nacional, cargo que ocupa até hoje.
Este desenvolvimento atrofiado da Justiça de Transição tem consequências concretas na vida dos brasileiros. O Sr. Philip Alston , Relator Especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, esteve no Brasil em 2010 e afirmou: “O dia-a-dia de muitos brasileiros, especialmente aqueles que vivem em favelas, ainda é vivido na sombra de assassinatos e da violência de facções criminosas, milícias, grupos de extermínio e da polícia, apesar de importantes reformas do Governo.” Ele disse também que nenhuma das 33 recomendações feitas pelas Nações Unidas foram integralmente cumpridas pelo país. A tortura também é uma realidade sistemática, principalmente dentro das unidades prisionais. No relatório nacional apresentado pelo Brasil durante o primeiro ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU) do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2008, o governo reconheceu a prática da tortura, sua gravidade e sua própria falha em criar mecanismos que coíbam esta prática. O vice-presidente do Subcomitê de Prevenção da Tortura das Nações Unidas e Chefe da missão da ONU, que realizou visita de inspeção ao Brasil, em setembro de 2011, disse que “A impunidade é um dos maiores fatores para a proliferação da tortura. Nós vimos em vários países que as mesmas pessoas que torturaram nos governos militares torturam nos governos democráticos.”
Contextualizada a pouca evolução da Justiça de Transição no Brasil em relação à América Latina, focaliza-se agora a situação de cada uma das quatro dimensões que compõe este processo: (a) reforma das instituições; (b) reparação; (c) verdade e memória; (d) justiça.
(a) No âmbito da reforma das instituições, a Constituição de 1988 possibilitou mudanças significativas, sem, entretanto, a abrangência necessária. Em relação às instituições herdadas da ditadura militar houve a extinção do SNI (Serviço Nacional de Informações); a criação do Ministério da Defesa, submetendo os comandos militares ao poder civil; a criação do Ministério Público; a criação da Defensoria Pública da União; a extinção dos DOI-CODI e DOPS; a revogação da lei de imprensa criada na ditadura; a extinção dos DSI (Divisões de Segurança Institucional); a criação da Secretaria Especial de Direitos Humanos.
As reformas das Forças Armadas e da Justiça , entretanto, não avançaram. Exemplo dessa paralisia é que a mudança feita pelo governo Geisel , em 1977, que alterou a jurisdição dos crimes cometidos por policiais militares, passando seu julgamento da justiça civil para a militar, aumentou as prerrogativas das forças armadas e permanece intocada até hoje .
As forças da Segurança Pública brasileiras também não passaram por reformas significativas. Policiais que se formaram na ditadura continuam na ativa e participando da formação de novos policiais. Esta realidade reflete-se na violência das ações policiais que entre 2003 e 2009 vitimaram mais de 11 mil pessoas só em São Paulo e Rio de Janeiro . A pesquisa ECOSOCIAL , aponta que 62,8% dos brasileiros entrevistados afirmaram confiar “pouco” ou “nada” na polícia. Na mesma pesquisa, 53,5% dos entrevistados afirmou temer ser preso ou maltratado pela polícia sem razão aparente e 40,1% disse temer que a polícia ou as autoridades entrem em sua casa sem autorização judicial.
(b) No âmbito das políticas de Reparação, foram criadas duas Comissões que cumpriram papel relevante: A Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos (CEMP) e a Comissão da Anistia.
A Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos foi criada pela lei 9140/95 alterada pelas leis 10536/02 e 10875/04. Em um primeiro momento a própria lei reconheceu 136 casos a serem indenizados. Sua tarefa foi apreciar as circunstâncias das mortes e se elas foram ou não provocadas por agentes do Estado. O prazo de requerimentos encerrou-se em 2004, após 2 prorrogações. Em 2007 a Comissão publicou o livro relatório “Direito à Memória e à Verdade”, no qual detalha os 357 casos reparados.
Em 2001 foi criada a Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça. Até 2007 sua tarefa fundamental foi analisar os pedidos de indenização dos perseguidos políticos. Entre 2001 e 2006 foram apreciados 26.781 casos. Nos dois anos seguintes avançou significativamente em termos numéricos – foram apreciados 19.699 em dois anos – e também passou a cumprir o papel de fomentar o debate sobre a Justiça de Transição no Brasil. Em abril de 2008 tiveram início as Caravanas da Anistia que levaram a Comissão da Anistia a 15 estados, realizando 26 sessões de julgamentos em instituições de ensino, sedes de sindicatos, de entidades representativas da sociedade civil, sedes governamentais, judiciais e legislativas. Estes eventos foram, além de julgamentos dos pedidos de anistia e indenização, um resgate da história de cada um dos personagens envolvidos, inclusive do Presidente João Goulart, deposto pelo golpe. Em 31 de julho de 2008 a Comissão da Anistia patrocinou o Seminário “Limites e Possibilidades para a responsabilização jurídica dos agentes violadores de direitos humanos durante o Estado de exceção no Brasil” que foi, segundo o Ministério da Justiça o primeiro debate público promovido pelo Estado sobre os limites e possibilidades para o processamento dos crimes de lesa-humanidade ocorridos durante a ditadura. Este evento reabriu institucionalmente a discussão acerca do alcance da Lei de Anistia brasileira, e ao mesmo tempo sintetizou o conjunto de argumentos que já vinham sendo desenvolvidos acerca do assunto.
Até o ano de 2009, os deferimentos em prestação única concedidos pela Comissão perfizeram um total de R$ 196.513.389,45 em 3336 processos deferidos. Os deferimentos em prestação continuada foram 9160, perfazendo um total de R$ 33.840.480,72.
(c) Na dimensão “Verdade e Memória” é preciso, em primeiro lugar, ressaltar que o balanço da ditadura militar segue em disputa na sociedade. Setores militares, capitaneados pelo Clube Militar promovem, anualmente, eventos em defesa do golpe e inclusive juristas até hoje conceituados, como Ives Gandra Martins, compactuam com esta versão . Um indicador muito contundente desta disputa são as referências públicas aos ditadores, através de nomes de ruas, monumentos, referências nos livros escolares, que sugerem a promoção de uma naturalização do autoritarismo.
O direito à Verdade e Memória não foi plenamente efetivado pois não houve a apuração, localização e abertura dos arquivos dos centros de investigação e repressão ligados diretamente ao CISA (Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica); ao CIE (Centro de Informações do Exército) e ao CENIMAR (Centro de Informações da Marinha). Além disso, a maioria dos corpos dos desaparecidos políticos não foram encontrados . É notória que existe, por parte do Estado brasileiro, uma restrição indevida de acesso à informação sobre o ocorrido na Guerrilha do Araguaia. O Exército, a Marinha e a Força Aérea alegam não possuir arquivos relativos à guerrilha, pois os documentos referentes ao período teriam sido destruídos de acordo com a normativa vigente à época. Estas alegações, contudo, não são comprovadas.
No âmbito jurídico, em 1982, familiares de desaparecidos na guerrilha iniciaram uma ação judicial de natureza civil ( Ação Ordinária nº 82.00.24682-5) com o objetivo de obter da União informações sobre o destino dos corpos de seus familiares desaparecidos. Mais de vinte anos passaram-se até que a Justiça Federal julgou procedente a ação, ordenando a desclassificação e apresentação de toda a informação relativa às operações militares relacionadas à Guerrilha. A União ainda intentou recursos e foi apenas em 2007 que a decisão favorável aos familiares transitou em julgado. A sentença foi executada, porém os documentos fornecidos pelo Ministério da Defesa não possibilitaram encontrar nenhum desaparecido. Em 2001 Inquéritos Civis Públicos ( nº 1/2001, 3/2003 e 5/2001) foram iniciados pelas Procuradorias dos Estados do Pará e São Paulo e do Distrito Federal, que também não obtiveram sucesso. Por fim, em dezembro de 2005, uma petição de Notificação Judicial ao Presidente da República e outras autoridades do governo e das Forças Armadas foi apresentada pelo Ministério Público Federal e pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos de Violência do Estado, requerendo a desclassificação de documentos sigilosos.
Por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foram ajuizadas outras duas ações. Uma perante o STF, para que os arquivos da ditadura não permaneçam secretos e outra perante o Superior Tribunal Militar, para apurar denúncias de que os arquivos estariam sendo destruídos.
Apesar de todas estas dificuldades, em 2007 foi publicado o livro “Direito à Verdade e Memória”. Este livro-relatório trouxe um resumo de todos os casos que passaram pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos políticos ao longo de 11 anos de trabalho, um pouco da biografia de cada um dos mortos e desaparecidos, além da verdadeira história sobre o que se passou com eles.
Em 2009 foi lançada a III edição do Plano Nacional de direitos humanos , que tem como eixo orientador VI o “Direito à memória e à verdade”. A diretriz 23 estabelece o “Reconhecimento da memória e da verdade como Direito Humano da cidadania e dever do Estado”, colocando como objetivo estratégico a promoção da apuração e do esclarecimento das violações aos direitos humanos, a supressão do ordenamento jurídico de normas que afrontem compromissos internacionais assumidos pelo Brasil bem como preceitos constitucionais.
Este plano causou grande polêmica política e o Presidente Lula promoveu alterações substanciais no seu texto, acabando por emitir um novo decreto , pois a cúpula das Forças Armadas chegou a ameaçar pedir demissão. Um dos pontos mais polêmicos apresentados pelo III PNDH foi a proposta de criação da Comissão da Verdade.
O projeto 7376/10, que cria a Comissão Nacional da Verdade, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, foi encaminhado ao Congresso em maio de 2010. Pela proposta do governo, a Comissão Nacional da Verdade terá a finalidade de “examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.”
Também são objetivos da Comissão, o esclarecimento das circunstâncias das violações aos direitos humanos, identificando e tornando públicas as instituições que as promoveram, bem como encaminhar aos órgãos públicos todas as informações obtidas que possam auxiliar na localização de desparecidos políticos; recomendar a adoção de medidas preventivas de novas violações e, com base nos informes obtidos, promover uma reconstrução da história dos casos de graves violações . Para executar suas funções a Comissão terá poderes de requisitar informações aos órgãos públicos, convocar pessoas para testemunho, determinar a realização de perícias, promover audiências públicas, entre outros . Seus 7 membros serão designados pelo Presidente da República e terão mandato até o final dos trabalhos da Comissão.
O projeto, entretanto, foi considerado insuficiente. O grupo Tortura Nunca Mais/RJ avaliou que a versão final da proposta de Comissão da Verdade sofreu graves e comprometedoras mudanças que mutilaram a 1ª versão, anunciada em dezembro de 2009. Na visão do Grupo, o Estado brasileiro não se compromete em fazer as buscas e identificações a não ser que ocorram informações, colocando o ônus das provas nas mãos de entidades de direitos humanos e dos familiares de desaparecidos, ao invés de possibilitar o acesso aos arquivos secretos da ditadura. O documento, publicado em 03/05/2011 finaliza repudiando a “encenação” de Comissão da Verdade e proclama a necessidade de outra Comissão, bem como do cumprimento integral da sentença da OEA e a abertura de todos os arquivos da ditadura”.
Suzana Keniger Lisboa, integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e viúva de Luiz Eurico Tejera Lisbôa, assassinado durante a ditadura, também critica a formatação da Comissão: “Tenho muito medo de que façam uma Comissão da Verdade de mentira.”
A anistia Internacional, que anualmente faz uma síntese sobre a situação dos direitos humanos em 159 países, ao criticar, no seu informe 2010, a dificuldade encontrada no Brasil para que seja levada a diante a apuração dos crimes cometidos durante a ditadura, cita os problemas enfrentados para a criação da Comissão da Verdade: “ Mesmo essa limitada proposta foi duramente criticada pelos militares brasileiros, com o ministro da Defesa tentando enfraquecê-la mais ainda.”
O Ministério Público Federal, através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, emitiu uma Nota Técnica sobre o Projeto, sugerindo um conjunto de mudanças necessárias para que a Comissão da Verdade se adéqüe às recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dentre as recomendações do MPF encontra-se a diminuição do lapso temporal analisado pela Comissão, o acréscimo da garantia de inviolabilidade dos membros da Comissão por suas opiniões e manifestações; mecanismos de participação da sociedade na escolha dos seus membros; o direito de requisitar documentos e informações de entidades privadas e o auxílio de força policial; a obrigação de a União divulgar e distribuir o relatório da Comissão amplamente; e por fim a garantia de autonomia financeira e administrativa para a Comissão, tida como indispensável para garantir a sua independência.
O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em setembro de 2011, conforme as instruções da Presidente Dilma Roussef. Em Manifesto , representantes de associações de ex-presos e perseguidos políticos, grupos de familiares de vítimas da Ditadura Militar, grupos de direitos humanos e outras entidades, denunciaram que o texto PL 7376/2010 “ estreita a margem de atuação da Comissão, dando-lhe poderes legais diminutos” e também que ele “impede que a Comissão investigue as responsabilidades pelas atrocidades cometidas e envie as devidas conclusões às autoridades competentes, para que estas promovam justiça.”Os manifestantes propõe um conjunto de mudanças a serem executadas no Senado, para que a Comissão da Verdade seja “de verdade”, “legítima”, “com estrutura adequada” e signifique uma verdadeira “consolidação da democracia”.
Em relação ao acesso à informações, foi aprovado na Câmara o projeto 41/2010 que cria a Lei de Acesso à Informação Pública, impedindo que documentos classificados como secretos fiquem eternamente em sigilo. No Senado, entretanto, Dois ex- presidentes, José Sarney ( o primeiro pós ditadura militar) e Fernando Collor de Mello( o primeiro eleito diretamente pós ditadura militar, cassado por corrupção), são a linha de frente na obstrução da votação da proposta .
(d) A luta pela Justiça, para que se possa investigar, processar e punir os agentes públicos que violaram os direitos humanos durante a ditadura militar, é a que segue mais incompleta no processo de transição brasileiro. A Lei da Anistia é o fator fundamental para esta dificuldade, e o principal embate em torno da sua validade deu-se no STF e na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ambas analisadas na sequência deste trabalho. Cabe referência, neste momento, que várias iniciativas judiciais foram tomadas na busca por Justiça, principalmente pelo Ministério Público Federal, mas não obtiveram sucesso . Uma vitória, entretanto, foi obtida pela família Almeida Telles, que logrou declarar o Cel. Carlos Brilhante Ustra culpado pela prática de tortura, mas a ação não impõe penalidades pois tem caráter meramente declaratório .
Sem dúvida, o embate jurídico de maior alcance foi em torno da interpretação da Lei 6683/79, ainda não encerrada no Supremo Tribunal Federal, através da Ação de Descumprimento de Preceito fundamental (ADPF) 153, impetrada pela OAB. Em 21 de outubro de 2008 a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental questionando a interpretação de que a referida lei anistiou os agentes públicos que promoveram torturas, desparecimentos e outras violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. Segundo a OAB, a interpretação vigente, que considera anistiados os torturadores, “viola frontalmente diversos preceitos fundamentais da Constituição ”. A ADPF aponta a existência de uma controvérsia pública sobre o âmbito de aplicação da lei pois os Ministros da Defesa e da Justiça, respectivamente Tarso Genro e Nelson Jobim, haviam manifestado, através da imprensa, posições divergentes sobre o tema, o que revelaria a existência de séria controvérsia constitucional sobre o caráter da lei.
De fato, a divisão, existente na sociedade brasileira em relação ao alcance da anistia, reproduziu-se no próprio governo. Na defesa da possibilidade de julgamento dos torturadores, o Ministério da Justiça, e do lado oposto, a Casa Civil, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. O Presidente Lula acabou arbitrando em favor dos segundos, o que se refletiu, também, na posição adotada pelo STF.
O dispositivo questionado pela OAB é o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 6683/79 que diz: “ Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.”
A proposta de ingressar com a ADPF surgiu no âmbito do Seminário “Limites e Possibilidades para a responsabilização jurídica dos agentes violadores de direitos humanos durante o Estado de exceção no Brasil”, promovido pela Comissão de Anistia, e foi encampada por importantes setores da sociedade. A Associação dos Magistrados Brasileiros emitiu nota pública defendendo a reinterpretação da lei, afirmando não conceber como adequada “uma leitura da lei de anistia que exclua a responsabilidade dos agentes que cometeram crimes contra a humanidade no período da ditadura militar. ” A Associação dos Juízes pela Democracia lançou um manifesto intitulado “ Apelo ao Supremo Tribunal Federal: Não anistie os torturadores!” e criando um Comitê Contra a Anistia aos Torturadores. Somaram-se ainda à iniciativa da OAB, através de amicus curie, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional – CEJIL , a Associação Democrática Nacionalista de militares – ADNAM e a Associação Brasileira de Anistiados Políticos (ABAP).
Nesta Ação Constitucional a OAB requereu ao STF uma interpretação conforme a Constituição, de modo a declarar-se que a Lei de Anistia não atinge os crimes comuns praticados por agentes da repressão. Segundo a OAB apenas esta interpretação seria coerente com a Constituição de 1988. O parágrafo 1º. do artigo 1º. da Lei 6683/79 não poderia ser recepcionado pela Constituição pois esta, em seu artigo 5º inciso XLIII, reputa o crime de tortura como insuscetível de anistia ou graça . Vejamos, sinteticamente, os argumentos levados ao Supremo Tribunal Federal pela Ordem dos Advogados do Brasil na ADPF 153.
O primeiro preceito constitucional que estaria sendo violado pela Lei 6683/79 é princípio da isonomia, expresso no artigo 5º, caput , pois os que praticaram crimes políticos foram processados e condenados, enquanto os demais, enquadrados nos chamados crimes conexos, não foram jamais condenados nem processados, pois já contavam com a imunidade penal durante todo o regime de exceção. Ressalta ainda a OAB que a própria lei excetua da anistia “os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentados pessoal ” e embora não haja uma definição legal do crime de terrorismo questiona se “por acaso a prática sistemática e organizada, durante anos a fio, de homicídios, seqüestros, tortura,e estupro contra opositores políticos não configura um terrorismo de Estado?”
O segundo Preceito Fundamental descumprido seria o direito à verdade, assegurado no artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição. A lei da anistia, à revelia deste dispositivo, estaria servindo para ocultar a verdade a respeito do que aconteceu com os desaparecidos, bem como impedindo a identificação dos agentes públicos responsáveis pelas torturas e desaparecimentos.
O terceiro preceito descumprido seriam os princípios republicano e democrático, inscritos no artigo 1º parágrafo único da Constituição Federal. Sendo que o regime democrático assenta-se na soberania popular e prima pela defesa do bem comum do povo, não é possível que se aceite, na visão da OAB, uma interpretação da lei que protege agentes públicos que cometeram crimes comuns contra opositores políticos e eram, ainda, remunerados com recursos públicos. No entendimento da OAB, para que a lei tivesse o efeito de anistiar os torturadores ela deveria ter sido legitimada, após a entrada em vigor da atual constituição, o que não ocorreu.
O quarto preceito constitucional violado pela lei, segundo a OAB, seria o princípio da dignidade da pessoa humana, assentado como fundamento do Estado Democrático de Direito, no artigo 1º inciso III da Constituição Federal. A OAB assinala “ a incompatibilidade ético-jurídica radical da tortura com o princípio supremo de respeito à dignidade humana, fundamento de todo o sistema universal de direitos humanos e do sistema constitucional brasileiro instaurado em 1988”
Para a OAB, este preceito não poderia ser negociado e, portanto, nenhum acordo envolvendo anistia a crimes que ferem a dignidade humana poderia ser feito. A OAB questiona, inclusive, a existência deste suposto acordo para permitir a transição à democracia, perguntando “quem foram as partes nesse alegado acordo?” e que se ele foi feito pelos parlamentares que aprovaram a lei, estes não tinham “procuração das vítimas para tanto” .
A inicial ressalta, ainda, o fato da lei ter sido votada durante a vigência plena da ditadura, em um Congresso nacional amordaçado pelos militares e composto inclusive por senadores biônicos ( não eleitos) e ainda ter sido sancionada por um Presidente da República militar e não eleito pelo povo. Sobre a auto anistia, a OAB registra ainda que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem jurisdição reconhecida pelo Brasil desde 1998, já decidiu, em pelo menos 5 casos que a auto anistia decretada pelos governantes em benefício próprio é nula e sem efeitos, e que o Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos.
No trâmite da ADPF junto ao STF, o Senado Federal pronunciou-se alegando a inépcia da inicial, pois a Lei da Anistia teria exaurido seus efeitos “no mesmo instante em que entrou no mundo jurídico, há trinta anos, na vigência da ordem constitucional anterior.”
Em sua manifestação, a Consultoria jurídica do Ministério da Justiça defendeu a inconstitucionalidade da interpretação questionada pela ADPF . Entretanto a Secretaria Geral de Contencioso da Advocacia Geral da União, diferentemente da posição expressa pelo Ministério da Justiça, foi contrária a revisão da interpretação da lei, afirmando que “ considerando-se que entre a edição da lei e a promulgação da nova ordem constitucional transcorrem praticamente dez anos, é certo que a anistia, tal como concedida pelo diploma legal, ou seja, de forma inegavelmente ampla, produziu todos os seus efeitos ( fato consumado), consolidando a situação jurídica de todos aqueles que se viram envolvidos com o regime militar, quer em razão de oposição, quer por atos de repressão”.
No mesmo sentido foram as alegações da Procuradoria Geral da República afirmando que “A anistia, no Brasil, todos sabemos, resultou de um longo debate nacional com a participação de diversos setores da sociedade civil, a fim de viabilizar a transição entre o regime autoritário militar e o regime democrático atual. (…)”
O relator da ADPF no STF, Ministro Eros Grau, julgou improcedente a Arguição apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
Em relação ao princípio da isonomia o voto do Ministro Eros Grau diz que a lei não afronta o afronta pois este princípio consiste em tratar desigualmente os desiguais , e portanto “anistiá-los, ou não, desigualmente”.
Quanto ao direito à verdade, o Relator simplesmente afirma não entender que a lei impeça “o acesso a informações atinentes à atuação dos agentes da repressão no período do compreendido entre 02 setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979”.
Em relação aos princípios republicano e democrático o Ministro diz que se a lei tivesse que ser referendada posteriormente a situação atual seria de sua ab-rogação total, o que conduziria a “tormentosas e insuportáveis consequências financeiras para os anistiados que receberam indenizações do Estado, compelidos a restituir aos cofres públicos tudo quanto receberam até hoje a titulo de indenização”.
Por fim, em relação princípio da dignidade da pessoa humana, que não poderia ser negociado, o Ministro Eros Grau diz que “Toda gente que conhece nossa história sabe que esse acordo político existiu, resultando no texto da lei 6683/79”.
O Ministro Eros Grau argumenta, ainda, que existe uma distinção entre dois tipos de lei: as “leis –medida” e as “leis dotadas de generalidade”, enquadrando a Lei 6683/79 na primeira categoria. Para ele as “leis- medida” ao serem imediatas e concretas e disciplinarem interesses determinados devem ser interpretadas de acordo com a realidade vigente no momento de sua edição, ao contrário das “leis dotadas de generalidade” que vem ser interpretadas continuamente, à luz da realidade presente e de seus conflitos . Apoiado nesta diferenciação o Ministro defende que o preceito que declara insuscetíveis de graça e anistia a prática de tortura (artigo 5º XLIII da constituição) não alcançaria “por impossibilidade lógica, anistias consumadas anteriormente a sua vigência. A Constituição não recebe, certamente, leis em sentido material, abstratas e gerais, mas não afeta, também certamente leis –medida que a tenha precedido. ” Assim, o Ministro sustenta que “Esse acompanhamento das mudanças do tempo e da sociedade, se implicar necessária revisão da lei de anistia, deverá contudo ser feito pela lei, vale dizer, pelo Poder legislativo.”
Apenas “parenteticamente” o voto do Ministro Eros Grau refere-se a algum instrumento do direito internacional: ele ressalta que lei 6683/79 precede a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, datada de dezembro de 1984 e em vigor desde junho de 1987. A mesma alegação de posterioridade é usada para desqualificar a incidência da lei 9455/97, que define o crime de tortura.
Por derradeiro, o voto do Relator sustenta que a Emenda Constitucional 26/85 teria reafirmado a lei da Anistia, abrangendo inclusive os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal.
O voto do Relator foi aprovado por sete votos a dois, sendo os votos divergentes dos Ministros Ayres Britto e Ricardo Lewandowski.
O primeiro baseia sua interpretação na Constituição Brasileira, entendendo que esta não anistiou aos violadores pois não cabe anistia aos autores de crimes hediondos ou assemelhados. Já o Ministro Lewandowski defende uma abordagem caso a caso, admitindo a possibilidade da anistia a agentes da repressão, desde que ficasse demonstrado que sua conduta era política e os meios não atrozes. Na prática, entretanto, isso não ocorreria pois os agentes estavam a serviço do Estado para manter a ordem e não para modificá-la, o que descaracteriza o crime político segundo entendimento consolidado na Corte.
Em contraposição à tese acolhida pelo STF, José Carlos Moreira da Silva Filho refuta o suposto “acordo”, elencando diversos fatos históricos da época que demonstrariam que o ambiente político era de violência e que as regras do jogo legislativo tinham sido mudadas de forma ilegítima para que os resultados das votações que interessavam à ditadura fossem sempre a favor do governo, como de fato aconteceu na votação da lei de Anistia.
Deisy Ventura entende que a decisão do Supremo contraria a nova ordem constitucional brasileira, que é “humanista e democrática” e também as obrigações internacionais assumidas pelo país através das convenções relativas aos direitos humanos que foram subscritas pelo país.
Sobre o fato do Brasil somente ter reconhecido a jurisdição da Corte em 2002, para fatos posteriores a 1998, André de Carvalho Ramos considera inútil este argumento, visto que a investigação e punição das violações de caráter permanente, como os desaparecimentos forçados, perduram no tempo, sendo posteriores ao reconhecimento da jurisdição obrigatória da Corte .
Sobre a anterioridade da referida Convenção, Deisy Ventura lembra que na época ( entre 1964 e 1985) havia vários outros atos multilaterais em vigor no âmbito dos direitos humanos, como, por exemplo, a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não há dúvida da adesão do Brasil às normas emanadas da Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil é um dos fundadores, entretanto estas normas internacionais expressas nas Convenções foram ignoradas no julgamento da ADPF 153.
Em relação ao argumento de que se vivia uma guerra e que, portanto, a anistia deveria ser concedida a ambos os lados, José Carlos Moreira ressalta que esta descrição de massacres promovidos pelo Estado contra sua população civil é um recurso usual e recorrente das ditaduras para maquiar o cometimento de crimes contra a humanidade. Como já observado na referência aos princípios do Direito Humanitário, mesmo na guerra há limites a serem respeitados.
Este conceito de crimes contra a humanidade, surgido no segundo pós-guerra, infelizmente, segundo José Carlos Moreira , não influenciou o Brasil na compreensão do conceito de Anistia, como pode-se perceber pelo fato de não ter sido referido ou mencionado em qualquer um dos votos no julgamento da ADPF 153.
Deisy Ventura também se refere ao fato do voto do Relator ter rechaçado o tratamento das violações cometidas pelos agentes públicos durante a ditadura como crimes contra a humanidade. Para ela, aqueles foram crimes graves, que tenderam a “desumanizar e despersonalizar as vítimas” e que foram “cometidos na execução de uma política de Estado, eis que até uma ato isolado, sob aparência de crime comum, pode tornar-se um crime contra a humanidade por sua vinculação a um ‘programa criminoso”.
Sobre o princípio da isonomia, cujo descumprimento foi evocado pela OAB na ADPF, José Carlos Moreira argumenta que os violadores receberam uma anistia total e prévia, pois sequer foram processados pelos crimes que cometeram. As vítimas do regime, entretanto, que já haviam sofrido toda sorte de violações, tiveram que contentar-se com uma anistia “mutilada e incompleta.” A desigualdade reside no fato de que os que já haviam sido condenados não puderam beneficiar-se da lei, mas somente os que ainda não tinham uma sentença condenatória.
Verifica-se, segundo André de Carvalho Ramos, que formalmente o Brasil integra ao sistema Internacional de proteção aos direitos humanos, mas na prática a interpretação deste direito é feita de forma a contrariar os órgãos internacionais encarregados do monitoramento e da proteção destes direitos.
Numa postura que Deisy Ventura chama de “provincianismo jurídico” o STF só tem aplicado as normas internacionais quando elas estão em concordância com o direito interno, ignorando o debate sobre a internacionalização do direito. É esta postura, segundo ela, que ampara a decisão sobre a ADPF 153. O acórdão descarta a aplicação da Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes por vigorar apenas em 26/6/1987 mas também não aplica nenhuma das convenções internacionais das quais o Brasil era signatário no período em que a lei da Anistia foi promulgada. Ao agir assim, descartando a aplicação da Convenção por ser superveniente à lei, mas também não aplicando aquelas convenções que estavam em vigor à época, o Supremo pratica um “positivismo a la carte.”
Para Deisy Ventura “o STF aplica pouco e mal o direito internacional; ignora o grande debate contemporâneo sobre a internacionalização do direito e o transconstitucionalismo; raramente ultrapassa os manuais mais batidos, não raro desatualizados, da doutrina internacionalista; praticamente despreza a jurisprudência internacional; e vale-se escassamente do direito comparado, quase sempre incorrendo, quando o faz, em grandes incompreensões dos sistemas jurídicos alheios”.
Em 17 de agosto de 2010, poucos dias depois do STF julgar improcedente a ADPF da OAB, aconteceu na Câmara dos deputados o 4º. Seminário Latino- Americano de Anistia e direitos Humanos. Neste evento, deputados e especialistas foram unânimes em condenar a decisão do Supremo Tribunal Federal contrária ao pedido a OAB. Em entrevista à imprensa, o pesquisador da Anistia Internacional, Tim Cahil, disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal é “ uma mensagem muito forte de negação da implementação de uma lei do direito internacional fortemente reconhecida, que proíbe anistia a crimes hediondos e contra a humanidade.”
Para Tarso Genro, que era Ministro da Justiça quando a ADPF da OAB foi impetrada, alegar que a democracia foi conquistada em uma transição controlada e sob este argumento tolerar violações aos direitos humanos significa aceitar a barbárie como uma fatalidade sem sujeito. Para ele a decisão do STF “chancelou a violência e reabriu o sentimento de medo, que caracteriza as ditaduras, mas também sobrevive nos países cujos magistrados aceitam que a exceção molde o presente da democracia e possa, mas tarde, aniquilar novamente o seu futuro”.
Capítulo 4 – O BRASIL DIANTE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, prolatada em 24 de novembro de 2010, condenou o Brasil por violações dos direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, devido aos acontecimentos no episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia. Uma das mais importantes determinações da Corte é o dever do Brasil conduzir eficazmente a investigação penal para esclarecer as responsabilidades pelos desaparecimentos forçados de 70 guerrilheiros e impor as respectivas sanções penais. Para a Corte, a lei de anistia brasileira não pode constituir-se como um obstáculo no cumprimento deste dever. Neste capítulo final vamos conhecer a decisão da Corte sobre o caso Gomes Lund x Brasil, verificar as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e o caráter obrigatório do cumprimento da sentença.
4.1 – O Caso “Gomes Lund e outros ( Guerrilha do Araguaia) Vs Brasil
A Guerrilha do Araguaia foi um agrupamento de homens e mulheres, membros do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que se insurgiram contra a ditadura e foram para a região sul do Estado do Pará na expectativa de arregimentar forças para, através da ação armada, derrubar o regime militar. Eram, na sua maioria, lideranças estudantis que já participavam ativamente da resistência ao regime militar, protagonistas das manifestações que aconteceram entre 1967 e 1969 em várias cidades do país. Com o recrudescimento da repressão, foram para a clandestinidade e aderiram ao método da guerrilha. Uma verdadeira operação de guerra foi montada para dizimar o grupo, numa desproporção gigantesca entre as forças da guerrilha e força da repressão. Foram várias campanhas que envolveram, entre abril de 1972 e janeiro de 1975, entre 3 mil a 10 mil homens. Os métodos usados pelos militares foram torturas, execuções sumárias e desaparecimentos forçados. Desde então, 70 guerrilheiros estão desaparecidos, constituindo a metade do total dos desaparecidos políticos no Brasil. Apenas o corpo de uma guerrilheira, Maria Lúcia Petit, foi descoberto e identificado . Ao final de 1974 já não havia mais guerrilheiros na região e o governo impôs silêncio sobre o assunto.
O caso “Gomes Lund e outros ( Guerrilha do Araguaia) Vs Brasil, chegou ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos após treze anos de tramitação, sem resultado, de uma ação ajuizada por 22 familiares de desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia, na qual eles solicitavam esclarecimento das circunstâncias das mortes e a localização dos restos mortais. Várias foram as tentativas, infrutíferas, de encontrar a Verdade e fazer Justiça no âmbito do sistema jurídico brasileiro. Por isso, cansados de esperar por resultados na justiça pátria, os familiares recorreram ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos através de uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos . A Comissão, após diligências, entendeu por enviar o caso para julgamento da Corte. A seguir descreve-se a demanda apresentada pela Comissão perante a Corte, as alegações do Estado brasileiro e a Sentença final da Corte Interamericana.
O Centro pela Justiça e o Direito Internacional ( CEJIL) e o Human Rights Watch/ Americas, em nome de pessoas desaparecidas no contexto da Guerrilha do Araguaia e seus familiares apresentou sua petição perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 7 de agosto de 1995. Seis anos depois, no dia 6 de março de 2001, a Comissão expediu o Relatório de Admissibilidade ( no. 33/01) e quase oito anos após a admissibilidade, em 31 outubro de 2008, a Comissão aprovou o Relatório de Mérito ( no. 91/08). O Brasil foi notificado em 21 de novembro de 2008 e teve o prazo de 2 meses para que informasse as medidas tomadas no sentido de implementar as recomendações da Comissão. Após prorrogar o prazo por duas vezes, a Comissão entendeu que não houve implementação satisfatória.
Assim, em 26 de março de 2009, em conformidade com os artigos 51 e 61 da Convenção Americana, que regulamentam o envio à Corte dos casos analisados pela Comissão, estabelecendo que se o Estado não atender as recomendações feitas pela Comissão, ela pode remeter o caso à Corte, a Comissão assim o fez.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou à Corte que declarasse a responsabilidade do Estado brasileiro pela violação dos artigos 3º, 4º, 5º , 7º, 8º, 13º e 25º da Convenção Americana, e ainda a conexão com as obrigações previstas nos artigos 1.1, que impõe a obrigação geral de respeito e garantia dos direitos humanos, e 2º , que impõe o dever de adotar disposições de direito interno, da mesma Convenção.
A Comissão alegou que a prática de desaparecimentos forçados é um crime contra a humanidade e que os fatos narrados foram perpetrados pelas forças de segurança do governo militar que agiram com recursos do Estado brasileiro para promover de forma sistemática detenções arbitrárias, torturas, execuções e desaparecimentos forçados.
A Comissão sustentou que o Estado brasileiro deve responder pelos fato acontecidos no contexto das operações do Exército brasileiro para combater a Guerrilha do Araguaia, realizadas entre os anos de 1972 e 1975, que resultaram na detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas e a execução extrajudicial de Maria Lúcia Petit, cujos restos mortais foram encontrados e identificados em 1996. A Comissão entendeu também que em virtude da Lei de Anistia ( lei nº 6683/79) o Estado não fez as investigações necessárias para julgar e punir os responsáveis, e que não garantiu aos familiares das vítimas o acesso à informações sobre os acontecimentos e o paradeiro dos corpos das vítimas, e por isso deve ser responsabilizado internacionalmente.
A Comissão também considerou que os recursos judiciais para que os familiares obtivessem informações sobre os restos mortais dos desaparecidos não foram eficazes ; que a integridade psíquica dos familiares foi violada pela impunidade dos responsáveis, pela falta de acesso à justiça, à verdade e a informação sobre os desaparecidos e a vítima de execução extrajudicial e ainda que os familiares das vítimas têm o direito à investigação das mortes ou desaparecimentos e que os responsáveis sejam processado, punidos e os danos aos familiares reparados e nenhuma lei ou norma de direito interno pode impedir que o Estado cumpra essa obrigação.
Os familiares das vítimas apresentaram seu escrito de solicitações , argumentos e provas através de seus representantes: o Grupo Tortura Nunca Mais (RJ), a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da violência do Estado(RJ) e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e somaram-se aos peticionários, através de amicus curiae, diversas pessoas e instituições.
O amicus curiae apresentado por professores e alunos da Unisinos alega que a condenação do Brasil no presente caso significaria não apenas a realização da justiça em relação aos fatos passados, mas também a possibilidade de intimidar a continuidade das violações aos direitos humanos que ocorrem hoje e que são derivadas da impunidade aos perpetradores das graves violações ocorridas durante a ditadura militar no Brasil, e derivadas também da blindagem em torno dos atos cometidos pelas FFAAA durante o período. Como exemplos desta situação o referido amicus curiae enumera diversos fatos, dentre outros: os arquivos relativos ao período seguem inacessíveis; autoridades acusadas de violações seguem em funções importantes; a existência de violência policial, torturas e execuções sumárias por parte da polícia que ficam impunes; as comemorações dos círculos militares no dia 31 de março, que festejam o aniversário do golpe sem qualquer juízo crítico; o fato de que as buscas dos corpos dos desaparecidos foram realizadas pelas FFAA, as mesmas responsáveis pelos desaparecimentos. Para os signatários do amicus curiae a condenação do Brasil também contribuiria para a reflexão da sociedade brasileira em torno do alcance da Lei da Anistia; sobre a diferenciação entre crimes comuns e crimes contra a humanidade, que são imprescritíveis; e também propiciaria um importante reforço à construção de um discurso histórico que renegue as práticas da ditadura.
O Estado brasileiro interpôs três exceções preliminares e contestou as alegações da Comissão, solicitando ao Tribunal que reconheça as ações empreendidas internamente e que julgue improcedentes os pedidos, pois, segundo suas alegações, estaria sendo construída uma solução compatível com suas particularidades do Brasil, a qual possibilitaria uma definitiva reconciliação nacional.
As três exceções preliminares interpostas pelo Estado foram as seguintes: a incompetência do Tribunal em virtude do tempo para examinar determinados fatos pois estes teriam ocorrido antes do reconhecimento da competência contenciosa do Tribunal; a falta de esgotamento dos recursos internos; e a falta de interesse processual da Comissão e dos representantes . Posteriormente, durante a audiência pública, o Estado acrescentou como exceção preliminar a “regra da quarta instância” pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter declarado improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)153.
O Estado, em sua defesa de mérito, contestou a qualificação dos fatos como crimes contra a humanidade, invocando os princípios da legalidade e anterioridade da lei penal e referiu-se, ainda, às medidas adotadas no âmbito interno, citando, entre outras, a Lei No. 9.140/95, que criou a Comissão Especial sobre mortos e desaparecidos, e a publicação do relatório “Direito à Memória e à Verdade”.
O Estado também citou, em sua defesa, as normas que regulamentam o direito à informação, agregando que o Projeto de Lei 5228, do Poder Executivo, em trâmite no Congresso Nacional desde fevereiro de 2009, modificará positivamente o cenário em relação ao tema e que todos os arquivos existentes estão à disposição para consulta de acordo com os prazos legais para sua liberação, e que os referentes à guerrilha não sofrem nenhuma restrição . Em relação aos familiares, o Estado alegou que tomou medidas para sanar o sofrimento dos familiares das vítimas e também buscou o esclarecimentos dos fatos, além de ter executado outras ações, como o pagamento de indenizações aos mesmos.
A Corte recebeu por escrito o depoimento de 26 supostas vítimas, de quatro testemunhas e o parecer técnico de cinco peritos. Uma audiência pública foi realizada, nos dias 20 e 21 de maio de 2010, na qual foram ouvidos os depoimentos de três supostas vítimas, quatro testemunhas, e os pareceres de dois peritos. Nesta audiência pública também foram feitas as alegações finais orais das partes sobre as exceções preliminares e sobre o mérito, reparações e custas.
A Sentença da Corte ( exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas) foi proferida em 24 de novembro de 2010, de acordo com os artigos 62.3 e 63.1 da Convenção Americana. O primeiro confere-lhe a competência para conhecer dos casos que lhe sejam submetidos, desde que o Estado parte em questão tenha reconhecido a sua competência contenciosa, situação na qual se enquadra o Brasil. O segundo artigo mencionado lhe confere poderes para determinar reparações às vítimas de violações de direitos humanos.
Em relação às exceções preliminares interpostas pelo Estado, a Corte considerou parcialmente fundada a alegação de incompetência temporal do Tribunal, em função do Brasil somente ter reconhecido a competência da Corte para fatos posteriores a este reconhecimento, que aconteceu em 10 de dezembro de 1998. Neste sentido a Corte decidiu que não pode exercer sua competência em relação à execução extrajudicial de Maria Lúcia Petit, cujos restos mortais foram identificados em 1996, mas pode exercer sua competência em relação aos “atos de caráter contínuo ou permanente [que] perduram durante todo o tempo em que o fato continua, mantendo-se sua falta de conformidade com a obrigação internacional.” Nesta categoria enquadra-se os desaparecimentos forçados cujo caráter permanente e contínuo “foi reconhecido de maneira reiterada pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos” e também as demais violações alegadas.
As demais exceções preliminares interpostas pelo Estado – falta de interesse processual e falta de esgotamento dos recursos internos – não foram acolhidas.
Sobre a discussão a respeito da classificação dos fatos como crimes contra a humanidade, a Sentença da Corte não faz esta qualificação, utilizando a “expressão genérica ‘graves violações de direitos humanos’. Sobre este tema, entretanto, o Juiz ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas, em seu voto fundamentado com relação à Sentença, diz que “ Os crimes de desaparecimento forçado, de execução sumária extrajudicial e de tortura perpetrados sistematicamente pelo Estado para reprimir a Guerrilha do Araguaia são exemplos acabados de crime de lesa-humanidade. Como tal merecem tratamento diferenciado, isto é, seu julgamento não pode ser obstado pelo decurso do tempo, como a prescrição, ou por dispositivos normativos de anistia”.
A Corte destacou que tem caráter jus cogens o dever dos Estados de investigar e punir as violações aos direitos humanos e que esta medida é fundamental para que os Estados garantam os direitos reconhecidos pela Convenção Americana . Esta obrigação decorre da garantia consagrada no artigo 1.1 da Convenção Americana.
A Corte salientou que o dever de investigar e os direitos dos familiares das vítimas “se depreendem das normas convencionais de Direito Internacional imperativas para os Estados Parte.” Tal dever foi afirmado por todos os órgão dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, como o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, o Comitê contra a Tortura das Nações Unidas, a antiga Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Corte Européia de Direitos Humanos, a Comissão Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos.
Sobre a incompatibilidade das anistias relativas a graves violações de direitos humanos com o direito internacional a Corte afirma que ela própria, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os órgãos das Nações Unidas e outros organismos universais e regionais de proteção dos direitos humanos já se pronunciaram sobre esta incompatibilidade. Neste sentido Corte evocou a jurisprudência estabelecida nos casos Barrios Altos e La Cantuta ( Perú) e Almonacid Arellano e outros (Chile) bem como em casos relativos a Argentina, Chile, El Salvador, Haiti, Peru e Uruguai, que reiteraram a incompatibilidade das leis de anistia com as obrigações convencionais dos Estados. No âmbito universal, a Corte destacou que os órgão de proteção de direitos humanos criados por tratados, como o Comitê de Diretos Humanos, reafirmaram que este tipo de anistia viola o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Cita também que o Comitê contra Tortura definiu que estas anistias violam a Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Além disso, afirma que o Tribunal Penal para a ex- Iuguslávia, o Tribunal Especial para Serra Leoa também deliberaram no mesmo sentido.
Todas estas decisões foram reafirmadas pelo Sistema Europeu e africano e que diversos Estados membros da OEA, por meio de suas Cortes Supremas, incorporam esta definição, caso da Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Colômbia.
A Corte Interamericana concluiu então que a interpretação dada à Lei de Anistia brasileira tem impedido o Brasil de cumprir ser dever internacional de investigar e punir as graves violações de direitos humanos conforme determina o artigo 25 da Convenção Americana que garante o direito à proteção judicial e também impediu que os familiares das vítimas fossem ouvidos por um juiz, conforme estabelece o artigo 8.1 da Convenção Americana, descumprindo também o artigo 1.1 da Convenção. Além disso, o Estado descumpriu o artigo 2º da Convenção Americana que determina a obrigação do Estado adequar seu direito interno às normas da Convenção.
Assim, a Corte conclui que a Lei de Anistia brasileira “carece de efeitos jurídicos” e que, portanto, não pode ser um empecilho para que sejam feitas investigações sobre o caso analisado, e sobre outros de igual gravidade, e nem mesmo para que os responsáveis, sendo identificados, sejam punidos.
Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a validade da interpretação da lei no sentido da anistia alcançar os agentes públicos que violaram os direitos humanos, a Corte afirma que “não foi exercido o controle de convencionalidade pelas autoridades jurisdicionais do Estado” e que o STF desconsiderou “as obrigações internacionais do Brasil derivadas do Direito Internacional, particularmente aquelas estabelecidas nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana, em relação com os artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento.”
A Corte recorda, ainda, que é um princípio básico do direito internacional a necessidade dos Estados cumprirem as obrigações que são voluntariamente contraídas (pacta sunt servanda) e que o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, dispõe que razões de ordem interna não são justificativas para descumprir obrigações internacionais. Estas obrigações vinculam todos os poderes e órgãos dos Estados, os quais “devem garantir o cumprimento das disposições convencionais e seus efeitos próprios (effet utile) no plano de seu direito interno”.
Embora valore positivamente as medidas de reparação tomadas pelo governo brasileiro, a Corte entende que elas não foram suficientes “porquanto omitiram o acesso à justiça por parte dos familiares das vítimas”.
Em relação às alegações do Estado brasileiro de que a demanda afetaria o princípio da legalidade e irretroatividade a Corte ressalta que os desaparecimentos forçados tem caráter “contínuo e permanente cujos efeitos não cessam enquanto não se estabeleça a sorte ou paradeiro das vítimas e sua identidade seja determinada, motivo pelos quais os efeitos do ilícito internacional em questão continuam a atualizar-se. ” Declara, assim, o Estado culpado pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal das pessoas indicadas na denúncia.
Por não garantir o direito aos familiares de buscar e receber informação e de saber a verdade sobre o ocorrido com seus parentes, Estado é declarado responsável pela violação do direito à liberdade de pensamento e de expressão inscrito no artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação com os artigos 1.1, 8.1 e 25 da mesma Convenção.
Por fim, também em prejuízo dos familiares, o Estado é responsabilizado pela violação do direito à integridade pessoal, inscrito no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação com o artigo 1.1 da Convenção.
A Corte, então, dispõe que a Sentença constitui per se uma forma de reparação e determina um conjunto de medidas a serem tomadas pelo Estado brasileiro para que venha a cumprir os compromissos assumidos perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Pela importância, cabe reproduzir in fine o Ponto Resolutivo nº 9:
“9. O Estado deve conduzir eficazmente, perante a jurisdição ordinária, a investigação penal dos fatos do presente caso a fim de esclarecê-los, determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências que a lei preveja, em conformidade com o estabelecido nos parágrafos 256 e 257 da presente Sentença”.
Os parágrafos mencionados no Ponto Resolutivo nº 9 determinam que a Lei de anistia e as disposições de prescrição, irretroatividade da lei penal, coisa julgada, ne bis in idem, ou excludentes similares, não podem ser aplicadas em benefício dos autores das violações , e também que a jurisdição a serem submetidas as causas oriundas do caso analisado seja a ordinária, e não a militar, bem como o acesso e capacidade de ação dos familiares das vítimas ao longo da investigação e julgamento, e a divulgação pública dos processos.
Também, em nível de dever positivo do Estado brasileiro, cabe ressaltar o Ponto resolutivo nº 15, no qual a Corte determina que em prazo razoável sejam tomadas medidas para tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas, e, enquanto esta tipificação não for feita, o dever do Estado de garantir, através dos mecanismos existentes no direito interno, o julgamento e punição dos responsáveis pelos desaparecimentos.
Por fim, a Corte determina que ela mesma efetuará a supervisão do cumprimento integral da Sentença e somente dará por concluído o caso no momento em que o Estado tenha cumprido integralmente as suas determinações. Estabelece, além disso, o prazo de um ano para que o Estado brasileiro apresente à Corte um informe sobre as medidas adotadas para o cumprimento da Sentença.
Cabe agora ao Estado brasileiro encontrar as soluções jurídicas no âmbito do seu direito interno para que sejam cumpridas as determinações contidas na Sentença. Analisaremos esta questão ao final, após demonstrar a força vinculante dos Tratados e Convenções dos quais o Brasil é signatário, e o seu dever, portanto, de cumprir a Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
4.2 – A responsabilidade internacional dos Estados e o cumprimento da sentença da Corte Interamericana dos Direitos Humanos
O texto constitucional brasileiro propicia um marco jurídico de extraordinária clareza na afirmação dos direitos humanos e do princípio da dignidade humana como fundamento do Estado brasileiro (artigo 1º inciso III ). No artigo 4º inciso II da CF, estabelece ainda a prevalência dos direitos humanos como princípio que rege as relações internacionais do país e o artigo 5º elenca um conjunto de direitos invioláveis e auto aplicáveis, conforme o parágrafo 1º do mesmo artigo.
O artigo 5º parágrafo 2º da CF consagra ainda que os direitos assegurados na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte , o que demonstra a importante hierarquia dada pela Constituição para os tratados de direitos humanos. Eles diferem-se dos demais Tratados pelo fato de que através deles os Estados obrigam-se perante a comunidade internacional a respeitar os direitos humanos sem a necessidade de uma contraprestação, pois o objeto não são os interesses materiais dos Estados, mas sim a proteção dos direitos humanos dos indivíduos que vivem sob a jurisdição dos Estados. A violação de um Tratado ou uma norma de direito internacional enseja a responsabilidade internacional do Estado, isto é, a obrigação de reparar os danos e/ou a possibilidade de sofrer sanções devido a esta violação.
Para vários autores, este dispositivo constitucional confere aos Tratados de direitos humanos uma hierarquia constitucional pois esta seria a interpretação que “(…) se situa em absoluta consonância com a ordem constitucional de 1988, bem como com sua racionalidade e principiologia. Trata-se de interpretação que está em harmonia com os valores prestigiados pelo sistema jurídico de 1988, em especial com o valor da dignidade humana – que é valor fundante do sistema constitucional”.
A emenda constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, inseriu o parágrafo 3º no artigo 5º da CF a determinação de que “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes as emendas constitucionais.”
O que se deve entender, na visão de Valério Mazzuoli de Oliveira, é que este quorum estabelecido pelo parágrafo 3º tem a função de “atribuir eficácia formal a esses tratados no nosso ordenamento jurídico interno, e não para atribuir-lhes a índole e o nível materialmente constitucionais que eles já tem em virtude do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição.”
Hoje, entretanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é do caráter supra legal dos Tratados de direitos humanos que não forem aprovados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Isto significa que mesmo estes estão acima das leis, embora abaixo da Constituição. Esta visão foi expressa pelo STF ao decidir o RE 466.343 –SP em 3 de dezembro de 2008, que depois consolidou-se na Súmula Vinculante 25 que diz: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer seja a modalidade do depósito”. Nesta decisão, o STF invocou o Pacto de São José da Costa Rica, ou seja a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, para descartar a licitude da prisão do depositário infiel.
Segundo Luiz Flávio Gomes, com o entendimento expresso na Súmula Vinculante 25 “alcançamos o Estado Constitucional Internacionalista”, pois se o critério jurídico para considerar uma norma válida fosse exclusivamente a Constituição, a prisão do depositário infiel seria considerada válida, pois a nossa Carta Magna a permite expressamente no artigo 5º inciso LXVII. Entretanto o STF considerou que a Convenção Americana tem valor supralegal, isto é vale mais do que a lei. Nesta lógica, “a lei deve ter dupla compatibilidade vertical: com a Constituição e com os tratados de direitos humanos. Qualquer antagonismo resolve-se pelo fim da validade da lei ordinária. O inferior cede em favor do superior.” No caso da prisão do depositário infiel, a Constituição estaria em conflito com o tratado internacional e neste caso, soluciona-se aplicando o princípio pro homine, isto é, aplicando-se a norma mais favorável ao ser humano, sem revogar-se a norma constitucional mas deixando de aplicá-la no caso concreto.
Do ponto de vista do direito internacional, não importa a visão predominante no direito interno a respeito do status dos Tratados internacionais de direitos humanos. A sua violação sempre enseja responsabilidade internacional, mesmo que seja a Constituição do país a amparar tal violação. A norma mais favorável ao indivíduo sempre vai prevalecer. Isto está claro, também, no Parecer nº 14 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, referente à interpretação dos artigos 1º e 2º da Convenção Americana.
Neste sentido o direito interno de cada Estado deve interagir com as normas e a jurisprudência internacionais. Assim define Cecília Medina Quiroga, juíza da Corte Interamericana de Direitos Humanos: “(…) o juiz nacional, ao interpretar uma norma de direitos humanos nacional, deve ter em consideração as normas internacionais e a jurisprudência internacional”.
Cabe ainda enfatizar que o tratado não vincula apenas o Poder Executivo, mas todos os Poderes do Estado: ao legislativo compete aprovar leis compatíveis com o compromisso assumido; ao executivo garantir a execução e ao judiciário aplicar a regra dele emanada, inclusive contra regra interna que o contrarie.
As obrigações incorporadas nos Tratados de direitos humanos são de caráter objetivo e tem como escopo fundamental a proteção dos direitos do ser humano e não dos Estados. Este é um traço marcante e específico dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos. Ao contrair uma obrigação internacional, isto é, assinar e ratificar um Pacto ou uma Convenção, o Estado está no exercício pleno da sua soberania e, portanto não pode invocá-la como razão para justificar o descumprimento deste compromisso. Isto foi reconhecido pela Corte Permanente de Justiça Internacional no caso “ Vapor Wimbledon” , em 1923, agregando ainda que um Estado Parte também não pode justificar o descumprimento de suas obrigações internacionais em base a suas leis internas ou constituição.
Esta mesma disposição está presente na Convenção de Viena sobre os direitos dos Tratados, que é uma espécie de “tratado dos tratados” ratificada pelo Brasil em 2009, o qual estabelece, no seu artigo 27, que os Estados parte não podem invocar disposições de direito interno para justificar o não cumprimento de um tratado. Ressalte-se que “o Brasil é signatário de praticamente todos os documentos internacionais sobre direitos humanos, tanto no sistema global como do sistema regional interamericano.”
É clara, portanto, a vinculação do Estado ao tratado do qual é signatário e que este deve, portanto, fazer observar as normas dele emanadas, sob pena de responsabilidade no âmbito internacional.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi ratificada pelo Brasil em 1992. Em seu artigo 1º os Estados Partes comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades reconhecidos pela Convenção e a garantir seu livre e pleno exercício. No artigo 2º fica estabelecido ainda que é obrigação dos Estados Parte adotar todas as medidas necessárias para que os direitos reconhecidos na Convenção sejam efetivados.
O Brasil reconheceu a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana em 1998 e promulgou este reconhecimento em 2002, com a ressalva de que o reconhecimento da jurisdição da Corte seria somente para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998. Sabe-se, entretanto, que no caso de crimes permanentes, isto é, de uma violação contínua devido aos crimes permanecerem sem investigação e sem punição, o entendimento da Corte Interamericana é de ela tem competência para julgar mesmo quando estes crimes tiveram início antes, mas permanecem depois do reconhecimento .É os caso dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia.
Ao reconhecer a jurisdição contenciosa da Corte, o Brasil atribui a ela a legitimidade para realizar o controle de convencionalidade, isto é, auferir a compatibilidade das normas internas – todas elas, inclusive as constitucionais – com os textos internacionais de direitos humanos.
Além disso, o artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias menciona expressamente que “O Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos.” Esta determinação constitucional dá ao tribunal uma elevada hierarquia, condicionando as autoridades brasileiras ao cumprimento de suas decisões pois seu reconhecimento advém de um comando constitucional.
Pode-se ainda mencionar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU 1966), ratificado pelo Brasil em 1992, que estabelece que na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar efetivos os direitos nele reconhecidos, os Estados-partes comprometem-se a tomar as providências necessárias com vistas a adotá-las . E ainda a Carta da Organização dos Estados Americanos que estabelece como parte essencial da ordem internacional o cumprimento fiel das obrigações emanadas dos tratados e de outras fontes do direito internacional.
Em relação à obrigação de julgar e punir as graves violações de direitos humanos, vimos anteriormente a farta jurisprudência da Corte Interamericana neste sentido. Pode-se citar, ainda, diversos outros instrumentos internacionais reconhecidos pelo Brasil que determinam esta obrigação:
Na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, ratificada em 20 de julho de 1989, em seus artigos 1º e 6º.
No artigo 4º parágrafo 1º da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes ratificada em 1989, bem como no artigo 5º parágrafo 1° da mesma Convenção.
E ainda, mais recentemente, na Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas que foi ratificada pelo Brasil em 08/04/2011 pelo Decreto Legislativo 127.
Cabe ressaltar ainda que na Declaração de Viena e no Programa de Ação adotado pela Conferência Mundial de Direitos Humanos, promovida pelas Nações Unidas em Viena , 1993,foi incluída uma cláusula recomendando a ab-rogação das leis que garantem a impunidade dos responsáveis pelas violações aos direitos humanos para que estes sejam devidamente julgados.
Evidentemente que o fato do Brasil ser parte integrante deste sistema internacional de proteção aos direitos humanos e de ter ratificado a grande maioria dos instrumentos internacionais que asseguram a proteção a estes direitos não significa que, de fato, tenhamos alcançado patamares satisfatórios na tutela dos direitos humanos. Na verdade o Brasil é “autor de muitos ilícitos internacionais em matéria de direitos humanos (…) [e] já começou a responder por esses ilícitos perante os órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos.”
O Brasil já recebeu três decisões desfavoráveis no âmbito da CIDH, mas a condenação no Caso Gomes Lund reveste-se de grande importância por, pela primeira vez, envolver “obrigações de fazer” para o poder executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público e também por colocar o Brasil diante da necessidade de dar continuidade a sua transição democrática, hoje ainda um “processo aberto e incompleto”.
A Sentença da Corte impõe obrigações de fazer a todos os 3 Poderes da República, e também ao Ministério Público. Ao Poder Executivo cabe o dever de investigar os desaparecimentos e outros atos de violação aos direitos humanos, através da Polícia Federal. Cabe a ele também a entrega de todos os arquivos sobre o período que possam ajudar a esclarecer os fato e encontrar os restos mortais dos desaparecidos. Ao Poder Legislativo cabe a tarefa de realizar a Comissão da Verdade, conforme os parâmetros estabelecidos pela Corte, e tipificar o delito de desaparecimento forçado. Ao Poder Judiciário caberá analisar as possíveis tentativas dos autores das violações de impedir o cumprimento da sentença. Seu dever é, portanto, julgar estas demandas à luz dos dispositivos do direito Internacional dos Direitos Humanos e do dever do Brasil de cumprir seus compromissos soberanamente assumidos perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Por fim, caberá ao Ministério Público, que tem a atribuição privativa de propor ações penais, dar andamento às denúncias concretas que a ele cheguem e também, na inércia dos demais poderes, utilizar seus poderes judiciais e extrajudiciais para implementar a Sentença.
Estão claras, entretanto, as dificuldades para implementação da Sentença. O Projeto que institui a Comissão da Verdade, aprovado na Câmara dos Deputados, traz no item 16 da sua justificativa o compromisso explícito assumido pelo governo de que “a Comissão Nacional da Verdade não terá caráter jurisdicional ou persecutório, em coerência com seu objetivo de promoção do direito à memória e à verdade”.
Neste mesmo sentido, o Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, ao comentar a decisão da Corte Interamericana, disse que “ Essa é uma decisão que pode surtir efeito no campo moral, mas não implica a revogação da Lei da Anistia e a cassação da decisão do Supremo.” O Presidente da Corte, Cezar Peluso, disse que “ a decisão da CIDH não terá efeitos diretos em relação a pessoas processadas por crimes anistiados.”
Esta contradição entre o compromisso de não haver persecução penal, assumido pelo governo no âmbito do Congresso Nacional, as declarações dos Ministros do STF de que a Sentença da CIDH não terá efeito algum e, por outro lado, o fato do Brasil ter reconhecido a jurisdição obrigatória da Corte resulta do fato de que a execução das decisões oriundas dos compromissos internacionais ficam a cargo de cada Estado, que tem a prerrogativa de decidir de que forma vão cumprir a decisão. Não existe uma execução forçada, um terceiro agente que execute a sentença à revelia do Estado. Portanto a violação da obrigação internacional provoca o nascimento uma nova responsabilização internacional, já que a sentença é juridicamente obrigatória mas não é auto executável. Para a execução depende-se do direito interno. Portanto a busca pelo cumprimento da sentença deve ser feita pelas vítimas ou pelo Ministério Público, através de processo judiciário.
As declarações acima reproduzidas demonstram que o direito internacional dos direitos humanos está formalmente inscrito na nossa ordem jurídica, mas na prática a interpretação dada a este direito pelos seus intérpretes mais autorizados, como a Corte Interamericana, é ignorada pelo STF .
O Ministério Público Federal, entretanto, parece ter uma visão oposta à dos Ministros do STF. Com o intuito de cumprir o seu papel, a Procuradoria Geral da República, através da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, realizou reunião no dia 21 de março de 2011 para discutir “ os efeitos domésticos da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes Lund e outros VS Brasil e as atribuições do Ministério Público Federal” . Uma Nota Técnica foi produzida para subsidiar a discussão dos pontos teóricos envolvendo a compatibilização da sentença internacional com o sistema jurídico interno, `a luz do direito internacional público e do direito comparado.
Além desta iniciativa do MPF, cujas conclusões nos reportaremos em seguida, a própria OAB voltou ao STF, em 13 agosto 2010 , interpondo Embargos Declaratórios e, assim, devolvendo ao Supremo questionamentos que são importantes para o deslinde da situação.
A Nota Técnica preparatória à reunião da 2ª Câmara se debruça sobre vários aspectos que envolvem a compatibilização do sistema penal brasileiro com o dever de cumprir a Sentença da Corte. Vejamos algumas questões a cerca das excludentes de punibilidade.
Sobre o problema da retroatividade in malam partem, Isto é, a incidência da garantia constitucional da legalidade e da irretroatividade da lei penal prejudicial. Segundo a Nota Técnica, a posição majoritária na jurisprudência internacional e no direito comparado dos demais países do continente americano é o entendimento de que “a investigação e sanção dos responsáveis por graves atentados a direitos humanos não afeta o âmbito de proteção da proibição da irretroatividade da lei penal prejudicial por que os crimes contra a humanidade já eram considerados imprescritíveis à época dos fatos pelo costume internacional, norma cogente” . Outra razão seria o fato de que a proibição contra a retroatividade é uma garantia constitucional que tem “natureza principiológica e está sujeita à ponderação.” Para fazer esta ponderação é preciso cotejar os princípios em jogo, neste caso, “a segurança jurídica e a proibição de que crimes contra a humanidade fiquem impunes”e neste sentido mesmo a anterioridade tendo natureza de regra “a ela se adicionaria cláusula de exceção consistente na admissão da retroatividade in pejus em certas condições, como por exemplo para crimes contra a humanidade”.
Sobre a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, a Nota Técnica ressalta que há uma contradição no sistema pois a Convenção Sobre a Não Aplicabilidade da prescrição a Crimes de Guerra e Crimes contra a humanidade ( 1969) e o Estatuto de Roma (2002) são taxativos enquanto a Convenção Sobre o Desaparecimento Forçado de pessoas e a Declaração da Assembléia Geral da ONU sobre o assunto autorizam o reconhecimento da prescrição pelo prazo máximo previsto no direito interno de cada estado ou por uma duração proporcional à gravidade do delito. Entretanto, a jurisprudência da Corte IDH não admite nenhuma exceção à imprescritibilidade no caso de desaparecimento forçado de pessoas.
Em relação ao insucesso de qualquer persecução criminal em virtude da prescrição, os embargos declaratórios interpostos pela OAB lembram que “entre as barbáries cometidas pelo regime de exceção há os crimes de desaparecimento forçado e de seqüestro que, em regra, só admitem a contagem de prescrição a partir de sua consumação — em face de sua natureza permanente, conforme já assentado na Extradição 974 —, de modo que inexistindo data da morte não há incidência do fenômeno prescritivo”.
Sobre este tema convém referir que a pedido do Ministério Público Federal, Procuradoria da República em São Paulo, o Centro Internacional para a Justiça Transicional (ICTJ) emitiu parecer técnico sobre a natureza dos crimes de lesa-humanidade, a imprescritibilidade de alguns delitos e a proibição de anistia. Nas conclusões deste estudo , o ICTJ afirma que os atos de sequestro, homicídio, falsidade ideológica e ocultação de cadáver acontecidos no Brasil durante a ditadura são crimes de lesa humanidade e, portanto, não estão sujeitos à prescrição. A imprescritibilidade destes crimes está expressa na Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes de lesa-humanidade, de 1968, e que muito embora o Brasil não tenha ratificado esta Convenção ele não está isento da obrigação de investigar e punir tais crimes pois este é um princípio do direito internacional reconhecido pela Assembléia Geral das Nações Unidas antes da aprovação da Convenção. O descumprimento desta obrigação configura, na visão do ICTJ, uma violação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e à Convenção Americana de Direitos Humanos.
Sobre o problema da taxatividade, isto é, nullum crimen sine lege stricta, que é objeto tanto de norma constitucional quanto de tratados internacionais de direitos humanos, a Nota Técnica colaciona jurisprudência da Corte européia de direitos Humanos (caso CRv. United Kingdom, 1995; Cantoni v. France, 1996; Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, 2001) e do Tribunal Especial para Serra Leoa, 2004, nas quais foi considerado que a invalidade das regras de anistia e prescrição advém do entendimento de que o costume internacional integra o direito penal interno; e apenas um caso da Corte Suprema da Argentina ( Mazzeo, 2007) entendendo o contrário.
A vasta jurisprudência colacionanda pelo MPF em sua Nota Técnica, principalmente da América latina, demonstra que há uma tendência a relativização de algumas garantias penais quando isso é imprescindível para que seja levada adiante a persecução penal de agentes militares ou policiais responsáveis por seqüestros, torturas e assassinatos. E assim acontece pois prevalece a interpretação de que as normas internacionais incidem sobre os fatos e por isso, mesmo que tais crimes não estivessem codificados no ordenamento interno, o jus cogens internacional à época já considerava estes crimes insuscetíveis de prescrição e anistia. Também leva-se em conta, para afastar as garantias, o fato de que nos estados de exceção não há possibilidade de persecução penal destes crimes, por isso a prescrição, por exemplo, não pode ser contada. Por fim, a questão da colisão das garantias penais com outros princípios, como o compromisso do Estado brasileiro de punir as graves ofensas aos direitos humanos, poderia ser resolvida através da inserção de uma “cláusula de exceção.”
Ao qualificar os crimes relatados na denúncia como “graves violações de direitos humanos” a Corte provoca a necessidade de uma definição em relação a quais condutas constituem violação de direitos humanos suficientemente graves para afastar a incidência da prescrição, anistia e outras causas de exclusão de punibilidade. O Tribunal Penal Internacional para a ex- Iugoslávia estabeleceu um padrão que é citado como critério identificador destas “graves violações”: que seja uma violação a uma regra de direito humanitário internacional; que esta regra esteja contemplada em tratado ou seja “costumeira por natureza”; que a violação seja de graves consequências para a vítima; que o direito costumeiro ou os tratados prevejam, para a violação desta regra, a responsabilidade criminal individual do agressor.
No entendimento do MPF, a decisão do STF não exime o Brasil do dever de cumprir a Sentença da Corte pois a aplicação de tratados é parte da sua atribuição, sendo fonte legítima de direito. A interpretação da lei da anistia que impede a persecução penal dos violadores de direitos humanos teria que ultrapassar o controle de constitucionalidade, exercido pelo STF e o controle de convencionalidade, exercido pela Corte Interamericana, sendo que não ultrapassou este último. Em relação às demais excludentes de ilicitude que poderiam impedir a persecução penal ( prescrição, legalidade penal estrita e retroatividade da Lex gravior )o MPF entende que a própria Corte superou estes supostos óbices pois não acolheu estes argumentos.
Conforme a determinação da Sentença da Corte o processamento e julgamento destes casos deve ser feito pela Justiça Federal, mesmo quando envolvam militares, pois se afasta a jurisdição da Justiça Militar em casos que envolvam violações de direitos humanos de civis. Neste sentido a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal considerou que cabe ao MPF assegurar apoio institucional a cada um dos seus membros com atribuição sobre cada caso concreto, definindo um grupo de trabalho e recursos para que a investigação com vistas à persecução penal de cada um dos casos concretos seja feita com eficiência.
Há que se considerar que a decisão da Corte é irrecorrível, válida e aguarda cumprimento. É atribuição constitucional do MPF a “defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” e ainda a função de “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” . Se o Brasil reconheceu a jurisdição contenciosa da Corte em 1998, e a Constituição assegura que “ a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito ”, institui como princípio a “prevalência dos direitos humanos ” e ainda inclui como direitos e garantias, além dos expressos na própria Constituição, aqueles oriundos de tratados internacionais, resta evidente a obrigação do Ministério Público Federal de fazer a devida persecução penal, conforme determinação da Corte, bem como o dever do Poder Judiciário em dar andamento satisfatório a estas ações.
CONCLUSÃO
O Brasil integra o sistema internacional de proteção aos direitos humanos, ratificou a grande maioria dos tratados internacionais de direitos humanos e dá a eles hierarquia supra legal ou constitucional. Isto não significa, entretanto, que a proteção aos direitos humanos do povo brasileiro esteja, de fato, assegurada. Ao contrário, o Brasil é sujeito ativo de muitas violações. É preciso transformar esta realidade, posto que é dever do país levar a sério seus compromissos com os direitos humanos. Para isso as normas emanadas do direito internacional dos direitos humanos não podem servir apenas para propaganda.
Levar a sério os direitos humanos significa, entre outras medidas, avançar na aceitação da interpretação que é feita desses direitos pelo direito internacional, de forma a acontecer um diálogo efetivo entre os tribunais internos e os tribunais internacionais. As leis e as decisões judiciais do país têm que ser compatíveis com os compromissos internacionais assumidos, sob pena de responsabilização. Esta regra está expressa claramente nos artigos 27 e 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, na qual se proíbe que um Estado justifique o descumprimento de uma obrigação internacional em virtude de uma regra interna, mesmo que ela seja constitucional. Não há duvida de que no sistema interamericano, as decisões da Corte são definitivas e que ela é a autoridade máxima de proteção dos direitos humanos no Continente americano.
Quando negou provimento à ADPF 153 o STF ignorou solenemente todo o arcabouço jurídico construído ao longo de décadas de evolução do direito internacional e dos direitos humanos enquanto direitos que são universalmente protegidos. Também foram ignorados pelo STF naquela decisão as ações soberanas do Brasil, que integraram o país ao sistema Interamericano de Direitos Humanos, – inclusive reconhecendo a jurisdição contenciosa da Corte -; bem como a Constituição brasileira que coloca os direitos humanos como fundamento do estado de direito.
A negativa de cumprimento da sentença na parte em que ela colide com a decisão do STF no julgamento da ADPF 153 – a validade da lei de anistia e o dever de processar, julgar e punir os autores de violações – teria como conseqüência a impossibilidade do Brasil em comprometer-se a cumprir as deliberações da Corte Interamericana, pois elas estariam sujeitas ao controle do STF. Isto significaria a impossibilidade do Brasil continuar reconhecendo a jurisdição da Corte, pois sua força vinculante estaria sujeita a visão nacional do STF, o que não é compatível com as normas do Sistema. Entretanto a denúncia restrita à jurisdição da Corte não é possível, pelas mesmas regras do Sistema, o que acarretaria a necessidade da denúncia da Convenção Americana como um todo. Ocorre que esta denúncia seria inconstitucional por força do efeito cliquet, isto é , a proibição do retrocesso em relação a direitos e garantias individuais, previsto no artigo 60 parágrafo 4º, IV, da CF.
Portanto, se o Brasil deseja continuar integrando o sistema internacional de proteção aos direitos humanos e se deseja honrar o fundamento constitucional da dignidade humana, não resta outra alternativa se não cumprir a decisão da Corte. E esta decisão foi clara no sentido de estabelecer que o Estado brasileiro violou obrigações internacionais contidas na Convenção Americana de Direitos Humanos em prejuízo dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia, da pessoa executada e de seus familiares, e em determinar um conjunto de medidas para reparar esta violações, dentre elas, a persecução penal dos agentes públicos que cometeram graves violações de direitos humanos durante a ditadura. Sua sentença determina que deva ser feita, de forma diligente, uma investigação de ofício na jurisdição penal ordinária e sem a aplicação das lei de anistia ou outras excludentes de punibilidade, como a prescrição ou coisa julgada, que impeçam a investigação e punição dos autores das graves violações aos direitos humanos descritas no Caso. Na sentença a Corte estabeleceu de forma peremptória que a obrigação de investigar e punir as graves violações de direitos humanos é uma norma jus cogens.
A Corte Interamericana de direitos humanos realizou o Controle de Convencionalidade da Lei de Anistia, isto é, seu objetivo não foi analisar esta lei à luz da Constituição Federal, mas sim à luz das obrigações assumidas pelo Brasil no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Parece-nos evidente, entretanto, que a decisão do STF não levou em consideração o fato de que ao realizar o controle de constitucionalidade, é sua obrigação também realizar o controle de convencionalidade, visto que a Convenção Americana de Direitos Humanos, assim como os demais tratados internacionais de direitos humanos, tem, no mínimo, hierarquia supra legal, reconhecida pelo próprio STF quando editou a Súmula 25. Portanto, quando uma norma legal infra constitucional como a lei de anistia, conflita com outra que é supra legal, no caso a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a primeira torna-se inaplicável.
Para ser um estado de direito verdadeiramente integrado ao direito internacional dos direitos humanos, o Brasil deve reconhecer a existência de uma pluralidade de fontes normativas cujo ponto de equilíbrio é o princípio pro homine, que estabelece que o corpo jurídico que compõe o direito internacional dos direitos humanos tem primazia sobre a legislação nacional sempre que aquele for mais benéfico ao ser humano. Ainda que determinada lei continue vigente no Estado, se ela é incompatível com o direito internacional dos direitos humanos, ela perde validade jurídica ou não é aplicada. A responsabilidade pela realização do controle de convencionalidade não é só dos tribunais internacionais. Ao contrário, pelo princípio da subsidiariedade, a responsabilidade primeira recai sobre os tribunais nacionais, que devem fazer este controle levando em conta não somente o tratado em si, mas também a interpretação que a eles é dada no âmbito do Sistema Interamericano. À Corte cabe a verificar se esses tribunais nacionais realizaram o controle de convencionalidade, e em caso negativo, determinar as medidas necessárias para adequar a norma interna à norma internacional.
Impõe-se agora, ao Supremo Tribunal Federal, a necessidade de rever sua decisão, indo além do controle de constitucionalidade e exercendo o controle de convencionalidade da Lei da Anistia. Isto pode, ainda, ser feito no âmbito do julgamento da ADPF 153, visto que o processo não está encerrado, restando os embargos declaratórios da OAB para serem analisados.
Se, por outro lado, o STF decidir por manter a sua decisão inicial e confrontar a decisão da CIDH, um grave conflito pode estabelecer-se visto que o Ministério Público Federal, através da 2ª Câmara Criminal, tem o entendimento de que é seu dever dar cumprimento a sentença, conforme explicado na Nota Técnica referida ao longo do trabalho. Os eventuais processados poderão recorrer ao STF em busca de Habeas Corpus, os quais , se concedidos, configurarão nova violação ao direito internacional dos direitos humanos, colocando nosso país, mais uma vez, na ilegalidade internacional.
Com o intuito de “promover o debate sobre o tema e levar ao conhecimento do maior número de pessoas, coletivos e instituições a necessidade de exigirmos do Estado brasileiro uma posição clara e coerente em direitos humanos” , uma campanha intitulada “CUMPRA-SE” vem sendo impulsionada pela AJD – Associação Juízes para a Democracia, CJP-SP – Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, GTNM-SP – Grupo Tortura Nunca Mais – SP, entre outros. O manifesto da campanha denuncia que o governo brasileiro nega-se a cumprir “um dos principais aspectos da sentença, que é a desobstrução da justiça para que os crimes de lesa-humanidade apontados sejam investigados e os responsáveis punidos(…) .”
Em dezembro de 2011 nova audiência da Corte Interamericana deverá avaliar o progresso do Brasil no cumprimento da Sentença. Tudo indica que a intenção do Estado brasileiro é utilizar-se da implementação da Comissão da Verdade para demonstrar à Corte que está cumprindo a sua decisão. Restará evidente, entretanto, a insuficiência de tal procedimento, visto que é parte essencial da Sentença a persecução penal dos violadores. Além disso, no que diz respeito à Comissão da Verdade, nem mesmo as recomendação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos acerca das prerrogativas e características de uma Comissão como esta foram observadas pelo projeto do governo brasileiro, e portanto, se de fato ela vier a instalar-se, o Brasil, ainda assim, estará muito aquém dos seus vizinhos latino americanos no que diz respeito às medidas que integram os princípios da Justiça de Transição e na realização plena da Justiça e da Verdade.
297. Quanto à criação de uma Comissão da Verdade, a Corte considera que se trata de um mecanismo importante, entre outros aspectos, para cumprir a obrigação do Estado de garantir o direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido. Com efeito, o estabelecimento de uma Comissão da Verdade, dependendo do objeto, do procedimento, da estrutura e da finalidade de seu mandato, pode contribuir para a construção e preservação da memória histórica, o esclarecimento de fatos e a determinação de responsabilidades institucionais, sociais e políticas em determinados períodos históricos de uma sociedade392. Por isso, o Tribunal valora a iniciativa de criação da Comissão Nacional da Verdade e exorta o Estado a implementá-la, em conformidade com critérios de independência, idoneidade e transparência na seleção de seus membros, assim como a dotá-la de recursos e atribuições que lhe possibilitem cumprir eficazmente com seu mandato. A Corte julga pertinente, no entanto, destacar que as atividades e informações que, eventualmente, recolha essa Comissão, não substituem a obrigação do Estado de estabelecer a verdade e assegurar a determinação judicial de responsabilidades individuais, através dos processos judiciais penais393
ANEXO 1
LEI N. 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979**
Concede anistia, e dá outras providências.
“O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º – É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de Fundações vinculadas ao Poder Público, aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares (vetado).
§ 1º – Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.
§ 2º – Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.
§ 3º – Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido por Ato Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para poder habilitar-se ao montepio militar, obedecidas as exigências do artigo 3º.
Artigo 2º – Os servidores civis e militares demitidos, postos em disponibilidade, aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, poderão, nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à publicação desta Lei, requerer o seu retorno ou reversão ao serviço ativo:
I – se servidor civil ou militar, ao respectivo Ministro de Estado;
II – se servidor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembléia Legislativa e de Câmara Municipal, aos respectivos Presidente;
III – se servidor do Poder Judiciário, ao Presidente do respectivo Tribunal;
IV – se servidor de Estado, do Distrito Federal, de Território ou de Município, ao Governador ou Prefeito.
Parágrafo único – A decisão, nos requerimentos de ex-integrantes das Policias Militares ou dos Corpos de Bombeiros, será precedida de parecer de comissões presididas pelos respectivos Comandantes.
Artigo 3º – O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente será deferido para o mesmo cargo ou emprego, posto ou graduação que o servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu afastamento, condicionado, necessariamente, à existência de vaga e ao interesse da Administração.
§ 1º – Os requerimentos serão processados e instruídos por comissões especialmente designadas pela autoridade à qual caiba apreciá-los.
§ 2º – O despacho decisório será proferido nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao recebimento do pedido.
§ 3º – No caso de deferimento, o servidor civil será incluído em Quadro Suplementar e o militar de acordo com o que estabelecer o decreto a que se refere o artigo 13 desta Lei.
§ 4º – O retorno e a reversão ao serviço ativo não serão permitidos se o afastamento tiver sido motivado por improbidade do servidor.
§ 5º – Se o destinatário da anistia houver falecido, fica garantido aos seus dependentes o direito às vantagens que lhe seriam se estivesse vivo na data da entrada em vigor da presente Lei.
Artigo 4º – Os servidores que, no prazo fixado no artigo 2º, não requererem o retorno ou a reversão à atividade ou tiverem seu pedido indeferido, serão considerados aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, contando-se o tempo de afastamento do serviço ativo para efeito de cálculo de proventos da inatividade ou da pensão.
Artigo 5º – Nos casos em que a aplicação do artigo anterior acarretar proventos em total inferior à importância percebida, a título de pensão, pela família do servidor, será garantido a este o pagamento da diferença respectiva como vantagem individual.
Artigo 6º – O cônjuge, qualquer parente, ou afim na linha reta, ou na colateral, ou o Ministério Público, poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que, envolvida em atividades políticas, esteja, até a data de vigência desta Lei, desaparecida do seu domicílio, sem que dela haja notícias por mais de 1 (um) ano.
§ 1º – Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legitimidade, oferecerá rol de, no mínimo, 3 (três) testemunhas e os documentos relativos ao desaparecimento, se existentes.
§ 2º – O Juiz designará audiência, que, na presença do órgão do Ministério Público, será realizada nos 10 (dez) dias seguintes ao da apresentação do requerimento e proferirá, tanto que concluída a instrução, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sentença, da qual, se concessiva do pedido, não caberá recurso.
§ 3º – Se os documentos apresentados pelo requerente constituírem prova suficiente do desaparecimento, o Juiz, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, proferirá, no prazo de 5 (cinco) dias e independentemente de audiência, sentença, da qual, se concessiva, não caberá recursos.
§ 4º – Depois de averbada no registro civil, a sentença que declarar a ausência gera a presunção de morte do desaparecido, para os fins de dissolução do casamento e de abertura de sucessão definitiva.
Artigo 7º – É concedida anistia aos empregados das empresas privadas que, por motivo de participação em greve ou em quaisquer movimentos reivindicatórios ou de reclamação de direitos regidos pela legislação social, hajam sido despedidos do trabalho, ou destituídos de cargos administrativos ou de representação sindical.
Artigo 8º – São anistiados, em relação às infrações e penalidades decorrentes do não cumprimento das obrigações do serviço militar, os que, à época do recrutamento, se encontravam, por motivos políticos, exilados ou impossibilitados de se apresentarem.
Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se aos dependentes do anistiado.
Artigo 9º – Terão os benefícios da anistia os dirigentes e representantes sindicais punidos pelos Atos a que se refere o artigo 1º, ou que tenham sofrido punições disciplinares ou incorrido em faltas ao serviço naquele período, desde que não excedentes de 30 (trinta) dias, bem como os estudantes.
Artigo 10 – Aos servidores civis e militares reaproveitados, nos termos do artigo 2º, será contado o tempo de afastamento do serviço ativo, respeitado o disposto no artigo 11.
Artigo 11 – Esta Lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive aqueles relativos a vencimentos, soldos, salários, proventos, restituições, atrasados, indenizações, promoções ou ressarcimentos.
Artigo 12 – Os anistiados que se inscreveram em partido político legalmente constituído poderão votar a ser votados nas convenções partidárias e se realizarem no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência desta Lei.
Artigo 13 – O Poder Executivo, dentre de 30 (trinta) dias, baixará decreto regulamentando esta Lei.
Artigo 14 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 15 – Revogam-se as disposições em contrário”.