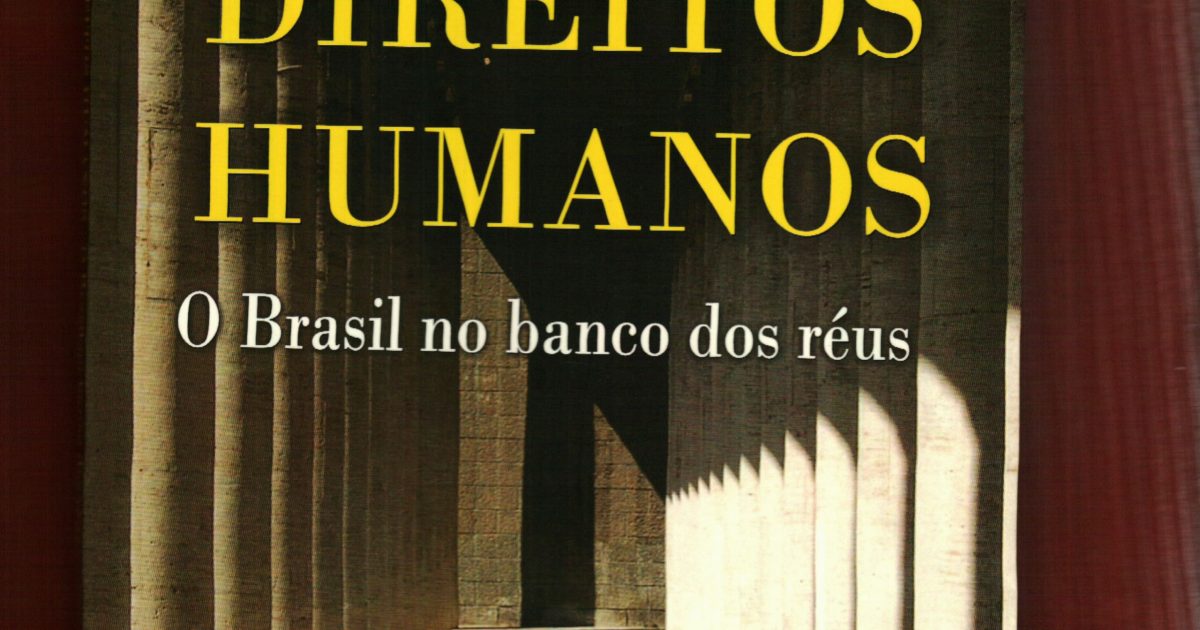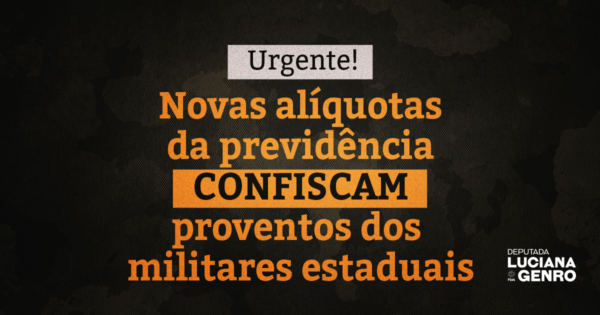Por Luciana Genro
O Senador Randolfe Rodrigues, do PSOL, é autor do PLS 237/13 que prevê a anulação da Lei de Anistia para torturadores. Esta proposta vai na mesma direção do projeto que apresentei como deputada federal, em 2010, o PL 7430/2010, elaborado com a inestimável colaboração do jurista Fábio Konder Comparato. Estas e outras propostas legislativas tentam reparar um fato contundente na história política brasileira: A Justiça de Transição1 não completou seu ciclo no Brasil. Avanços ocorreram no que diz respeito às esferas da memória e da reparação, entretanto o julgamento e a punição dos torturadores, bem como a transformação profunda das instituições que deram guarida à tortura, ainda não ocorreram.
O desenvolvimento atrofiado da Justiça de Transição traz consequências concretas no presente. A tortura ainda é um método utilizado com freqüência, e as execuções sumárias são prática corrente das polícias. As Unidades de Polícia Pacificadora, UPPs, no Rio de Janeiro, vem sendo alvo de denúncias sistemáticas de abusos e violações aos direitos humanos dos moradores. O caso Amarildo, pedreiro desaparecido em junho de 2013, ganhou ampla repercussão, mas está longe de ser um caso isolado. Já é fato praticamente comprovado que ele foi morto por policiais em uma sessão de tortura dentro da sede da UPP.
No livro “Como nascem os monstros”, Rodrigo Nogueira, ex soldado da PM do Rio de Janeiro, relata com detalhes como o caso Amarildo não foi uma exceção: “Entre 2005 e 2009, o soldado Rodrigo usou a farda, o distintivo e as armas cedidas pela corporação para extorquir dinheiro de quem estivesse fora da lei ao cruzar seu caminho, torturar traficantes, negociar e vender a liberdade de perigosos assaltantes, julgar e condenar à morte criminosos e suspeitos de crimes, participar de ações da milícia e matar a sangue-frio, sem piedade. Pela primeira vez um ex-PM do Rio confessa publicamente ter cometido tamanhas atrocidades e revela como funciona o esquema que corrompe praticamente toda a cadeia hierárquica da corporação, do soldado ao coronel.”2
O deputado estadual do PSOL/RJ, Marcelo Freixo, relata que “entre 1997 e 2012, o estado do Rio de Janeiro alcançou a marca de 12.560 “autos de resistência” (mortes de civis resultantes de ação policial). Um levantamento feito pelo sociólogo Ignácio Cano, na década de 1990, mapeou que as mortes decorrentes das ações policiais se concentram em favelas. Entre os casos analisados, quase a metade dos corpos recebeu quatro disparos ou mais, e 65% dos cadáveres apresentavam pelo menos um tiro nas costas ou na cabeça, configurando a prática de execuções sumárias.”3
Uma polícia violenta, corrupta e que conta com a impunidade para perpetrar os mais brutais atos de barbárie, como o que vitimou Amarildo, Cláudia Silva Ferreira e tantos outros, é uma herança deste ciclo incompleto da transição. Uma proposta concreta para combater a lógica violenta das Polícias é a desmilitarização, debate que ganhou força a partir das manifestações de junho e de tantas outras que vieram depois e foram reprimidas. As favelas já conviviam cotidianamente com a violência policial, mas agora a violência ficou mais visível para todos.
Mas 30 anos após o final do regime militar, militares ainda negam a existência da tortura institucionalizada, mesmo com todas as evidências, depoimentos e marcas deixadas na vida de tantas pessoas, e pela morte e desaparecimento de outras tantas. Agentes públicos transformados em torturadores e assassinos seguem impunes, e ainda remunerados pelo Estado, como policiais, militares ou médicos.
Entretanto, a tentativa dos poderes executivo, legislativo e judiciário de que a Justiça de Transição feche o seu ciclo sem que o quesito “Justiça” seja contemplado, esbarra na persistência de sobreviventes, familiares de vítimas e lutadores pelos direitos humanos. Confronta-se, ainda, com a exigência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de que haja persecução penal dos agentes públicos responsáveis por graves violações aos direitos humanos durante a ditadura.
A sociedade é resultado de embates dialéticos, a história é feita por homens e mulheres de carne e osso, que são também um resultado das forças em luta e dos conseqüentes avanços de consciência que se operam no seio desta sociedade. Assim, um grupo de Procuradores da República saiu do script acordado dentro do Estado brasileiro e vem questionando a impossibilidade legal de processar, julgar e punir os torturadores. Estes Procuradores tem encontrado barreiras duras no Poder Judiciário, mas mesmo nele conseguiram penetrar.
O Ministério Público Federal, através da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, coordenada pela subprocuradora geral da República Raquel Dodge, tem atuado de forma firme e incessante para apurar e garantir a responsabilização penal dos agentes de Estado envolvidos nos crimes contra os direitos humanos. Um Grupo de Trabalho Justiça de Transição foi criado com o objetivo de avaliar as consequências da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que condenou o Brasil no caso Gomes Lund vs. Brasil ( Guerrilha do Araguaia), determinando que a Lei de Anistia não poderia ser óbice para a persecução penal dos crimes cometidos no período ditatorial. O Grupo, coordenado pelo Procurador Ivan Cláudio Marx, sustenta que os desaparecimentos forçados dos integrantes da Guerrilha do Araguaia são crimes de sequestro “cometidos no contexto de uma ataque sistemático e generalizado a uma população civil”, o que os caracteriza como crimes contra humanidade, tornando-os imprescritíveis e insuscetíveis de anistia. São, ainda, crimes permanentes, isto é, ainda em andamento, pois vários corpos seguem desaparecidos, e por isso não alcançados pela Lei de Anistia, que refere-se àqueles crimes ocorridos até 1979.
Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 1534, que validou a interpretação de que a Lei de Anistia também impediria a persecução penal dos agentes públicos que cometeram violações contra os resistentes, e não apenas para os perseguidos políticos, a 2ª Câmara do MPF entende que não pode prevalecer o direito interno diante do direito internacional, pois a vinculação do Estado brasileiro à autoridade do tribunal internacional foi validada pelo direito constitucional interno.
Diversos instrumentos jurídicos dão razão os Procuradores. O Brasil é signatário da Convenção de Viena. Ao fazer isso o nosso país comprometeu-se que ao assumir e ratificar um pacto ou convenção internacional no exercício da sua soberania não poderá invocar esta mesma soberania para descumprir o pacto.
O artigo 1º inciso III da Constituição brasileira eleva o princípio da DIGNIDADE HUMANA a fundamento do Estado brasileiro. O Artigo 5º parágrafo 2º afirma que os direitos assegurados na Constituição não excluem outros decorrentes de tratados de direitos humanos. Este dispositivo constitucional, para importantes juristas, significa elevar estes tratados ao status constitucional, ou no mínimo, supra legal.
Em 1992, por livre e espontânea vontade, o Brasil aderiu ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em 1998 o país foi ainda mais adiante, reconhecendo a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana e assim assumindo o compromisso de aceitar as suas decisões como obrigatórias e de pleno direito. E a obrigação de julgar e punir as graves violações de direitos humanos já é, há anos, a jurisprudência da Corte.
Há ainda diversos outros instrumentos internacionais, reconhecidos pelo Brasil, que determinam essa obrigação, como a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura5, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes6, e, ainda a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas.7
Cabe ressaltar que na Declaração de Viena e no Programa de Ação adotado pela Conferência Mundial de Direitos Humanos, promovida pelas Nações Unidas em Viena (1993), foi incluída uma cláusula recomendando a ab-rogação das leis que garantem a impunidade dos responsáveis pelas violações aos direitos humanos para que os responsáveis sejam devidamente julgados.8
Mesmo assim o Brasil recusa-se a cumprir a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund X Brasil, proferida em 14 de dezembro de 2010, na qual a CIDH conclui que a interpretação dada à Lei de Anistia viola a convenção Americana dos Direitos Humanos e determina, entre vários outros pontos, que esta lei não pode ser obstáculo para o cumprimento de seu compromisso internacional de processar, julgar e punir os autores de graves violações aos direitos humanos.
Mas por que é tão difícil ao Brasil cumprir esta etapa transicional já realizada pelo menos parcialmente pela esmagadora maioria dos países latino americanos que passaram por ditaduras?
A transição controlada
Não há duvidas de que na raiz desta interdição ao pleno desenvolvimento da Justiça de Transição no Brasil está o tipo de transição vivida pelo país, controlada pelas elites dominantes. Os militares e civis encarregados de representar os interesses da burguesia e do imperialismo – e que em nome desses controlaram o país ao longo da ditadura entregaram o poder de forma “gradual e segura” para os novos operadores comprometidos em preservar os interesses dos que saíam do centro do palco para os bastidores.
Esta transição foi tão controlada que possibilitou, inclusive, a reciclagem de figuras – chave do regime militar, cujo exemplo mais eloqüente é o Senador José Sarney. Não são, portanto, apenas os que cometeram diretamente as violações aos direitos humanos que estão sendo protegidos pela Lei da Anistia. Os principais beneficiários são os políticos, empresários, banqueiros, os grupos políticos e econômicos que deram sustentação ao regime, responsáveis últimos por todas as barbaridades cometidas na defesa de seus interesses. O que explica a força contrária a uma interpretação da Lei da Anistia que possibilite a persecução penal dos responsáveis pelas execuções, desaparecimentos, mortes e torturas é que os mentores e sustentáculos daquele regime seguem presentes nas diversas instâncias do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e continuam no controle da economia do país. O fato de que grandes empresas, inclusive de comunicação, foram colaboradoras do regime já não é uma novidade. A própria Rede Globo teve que se manifestar sobre o nefasto papel cumprido durante a ditadura.
O fato de que a transição foi controlada pelas elites políticas e econômicas dominantes contradiz a tese de que houve um pacto de transição, argumento usado inclusive por Ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito da votação da ADPF 153. Muito pelo contrário. Uma breve análise do momento histórico em que foi aprovada a Lei de Anistia demonstra que a violência do regime seguia de forma intensa e que, portanto, qualquer tipo de pacto, se tivesse ocorrido, não teria legitimidade.
Para exemplificar a situação basta verificar que entre 1977 e 1981, cerca de 100 atentados ocorreram impunemente.9 Em 1º de abril de 1977, o governo fechou o Congresso, por meio de um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como “Pacote de Abril”, e só voltou a abri-lo, em meio à intensificação da censura e de cassações de mandatos, após assegurar as mudanças que deveriam garantir a vitória da ARENA nas eleições.10
No final do ano de 1978, estava ainda em pleno vigor a Operação Condor, um conjunto de operações levadas a cabo de forma articulada pelas ditaduras latino-americanas, e os uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Dias foram sequestrados em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.11
Os Atos Institucionais haviam sido extintos em outubro de 1978; entretanto uma nova Lei de Segurança Nacional foi aprovada, concentrando poderes de forma inédita nas mãos do general Geisel.12
Nesse cenário, em 27 de julho de 1979, o Presidente João Batista Figueiredo assinou o projeto que daria origem à Lei da Anistia. Pela proposta do governo, os já condenados por crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal estariam excluídos do benefício. Durante os debates do projeto no Congresso Nacional os presos políticos entraram em greve de fome, reivindicando a anistia ampla, geral e irrestrita e denunciando a lei, que garantiria uma irrestrita e prévia anistia aos torturadores.
O parágrafo 1º do artigo 1º da lei incluiu uma definição de “crimes conexos”, na qual caberiam todos os crimes comuns cometidos pelos agentes da repressão. Uma verdadeira autoanistia, que possibilitou ao regime garantir a impunidade dos torturadores sem precisar reconhecer a existência da tortura.13
Em 21 de agosto de 1979, na sessão conjunta do Congresso Nacional que votaria a lei, os deputados da oposição denunciaram a falta de legitimidade do Congresso para votar o projeto que o governo pretendia impor, pois aquele Congresso, que já havia aceitado os Senadores biônicos, estava aceitando todas as limitações impostas pelo governo. Ressaltaram que a anistia era fruto da luta popular, e que na forma em que estava, seriam os torturadores os principais beneficiados com o projeto do governo.14
Enquanto os deputados discursavam, várias manifestações populares aconteciam, tanto em Brasília como em outras capitais. As galerias do Congresso chegaram a ser ocupadas por 700 soldados da Polícia da Aeronáutica. A tensão era grande entre os parlamentares.15
O discurso do Presidente da Comissão Especial que havia analisado o projeto, Senador Teotônio Villela, demonstrou, de forma evidente, a imposição do projeto a um Congresso sitiado:
“A oposição procurou, de V.Exa. a todas as lideranças, meios de um entendimento. Tudo nos foi negado, até a humildade honrada de pedir para insistir. Está selado o destino. Os jornais hoje publicam. Não havia necessidade mais desse formalismo. […] Criaram uma voz mais grossa e mais elevada do que a voz do Sr. Relator, a voz das bombas que ontem vieram atingir-nos na porta do Congresso Nacional. E não precisava, Sr. Presidente, não precisava, de maneira nenhuma, de votação. Bastam os pelotões que lotam essas galerias. Estas são as circunstâncias, Srs. Congressistas, em que estamos votando.”16
Evidentemente que a Lei 6683/79 foi considerada como um avanço, pois beneficiou cerca de cinco mil pessoas atingidas, de diferentes formas, pela repressão. Entretanto, grande parte das reivindicações daqueles que lutaram pela anistia não foram contempladas: a lei não anistiou os condenados por atentados e sequestros e não propiciou a libertação dos presos enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Além disso, abriu o caminho para barrar a investigação e a punição dos agentes públicos envolvidos com a tortura e com os desaparecimentos políticos.17
O principal objeto da polêmica, que até hoje subsiste, é o parágrafo 1º do artigo 1º da lei, pois o objetivo declarado da lei era anistiar os opositores políticos, mas esse dispositivo incluído tinha o objetivo, não declarado, de anistiar também os agentes públicos que, sob o pretexto de defender o regime, mataram, torturaram e violentaram os opositores, perpetrando, na verdade, crimes comuns que não poderiam ser abrangidos pela anistia. O regime não reconhecia a prática da tortura; por isso, o debate sobre a inclusão dos agentes públicos que promoveram violações dos direitos humanos não foi feito abertamente.
Além disso, como se pode concluir pela narrativa da aprovação da lei, ela foi uma autoanistia, pois, no momento de sua aprovação, o regime ainda detinha total controle do Congresso, e a sociedade permanecia amordaçada pela censura e pela repressão política. Decorre desses fatos o questionamento sobre a validade desse dispositivo, à luz na Constituição de 1988 e das normas de Direito Internacional. O debate em torno da lei e a luta para que ela não seja um óbice para a verdade e a justiça prossegue até hoje.18
Brasil no fim da fila
Em contraste com o Brasil, a Argentina é o país que mais julgou e prendeu os autores de violações dos direitos humanos, mas o embate contra a impunidade teve grande participação popular, e durou anos. Finalmente, em 14 de junho de 2005, acatando o entendimento da Corte Interamericana, a Suprema Corte argentina considerou inconstitucionais as leis do Ponto Final e da Obediência Devida19, declarando expressamente que “carecem de todo efeito que delas ou de atos praticados em função delas possam emergir obstáculos processuais que impeçam o cumprimento dos mandatos de direito internacional”. O Congresso, então, sancionou a Lei 25.779, que as declarou “insanavelmente nulas”.20
Uma pesquisa realizada por Kathriyn Sikkink e Carrie Booth Walling, do departamento de Ciência Política da Universidade de Minnesota21, demonstra que esse atraso comparativo do Brasil vai além das fronteiras do Mercosul. As pesquisadoras analisaram dados de um período de 26 anos, abrangendo 192 países e territórios. Destes, 34 países utilizaram Comissões da Verdade, e 49 realizaram pelo menos um julgamento de transição. Junto às Comissões da Verdade, em dois terços dos países analisados, também aconteceram julgamentos. Nas Américas, foram todos. O Brasil, segundo a pesquisa, está isolado no contexto latino-americano pelo fato de ter editado uma Lei de Anistia, e esta ter evitado qualquer julgamento. Exceto pelo Brasil, na América Latina como um todo, as Leis de Anistia não conseguiram barrar os julgamentos, muito embora elas tenham sido utilizadas em 16 dos 19 países que passaram por um processo de transição. Também há casos em que esses dois processos ocorreram apesar da concessão de anistias. Somente no Brasil a anistia atingiu o objetivo de impedir os julgamentos.22
Um importante aspecto que difere o processo brasileiro dos demais países latino americanos é que a repressão política no Brasil foi fortemente judicializada e funcionou por meio de um sistema que fundiu as elites militares e judiciárias numa cooperação que preservou um alto grau de consenso entre as duas corporações. Esta fusão propiciou uma preocupação maior do regime com a legalidade formal, em comparação com a Argentina, por exemplo. No Brasil, a razão entre os processados em tribunais militares e os mortos extrajudicialmente foi de 23/1 (para cada 23 processados, um morto extrajudicialmente), enquanto na Argentina foi de 1/71 (para cada um processado, 71 mortos extrajudicialmente).
Essa integração entre as forças armadas e o judiciário também trouxe consequências para o tipo de transição política e para o desenvolvimento posterior da justiça de transição no Brasil. O status quo dos poderosos da ditadura foi preservado, e as medidas de instauração de uma justiça transicional foram mínimas.
No relatório nacional apresentado pelo Brasil durante o primeiro ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU) do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2008, o governo reconheceu a prática e a gravidade da tortura, e sua própria falha em criar mecanismos que coíbam essa prática.23 O vice-presidente do Subcomitê de Prevenção da Tortura das Nações Unidas e Chefe da missão da ONU, que realizou visita de inspeção ao Brasil, em setembro de 2011, afirmou que “a impunidade é um dos maiores fatores para a proliferação da tortura. Nós vimos em vários países que as mesmas pessoas que torturaram nos governos militares torturam nos governos democráticos”.24
A própria transição foi marcada pela preservação. Apesar da multitudinária campanha por eleições diretas, a proposta foi derrotada no Congresso, e o presidente foi eleito indiretamente. O processo foi controlado e dominado pelas elites, que garantiram que as organizações conservadoras do judiciário e das forças armadas mantivessem-se intocadas após a transição.25 Símbolo maior desse processo é o já mencionado Senador José Sarney, que foi um político da base de apoio do regime ditatorial, tendo rompido com o regime no apagar das luzes, e, na condição de vice-presidente eleito pelo Congresso, com a morte do titular, Tancredo Neves, acabou por ser o primeiro presidente após a redemocratização. Em 2003, aderiu ao governo Lula e foi apoiado pelo PT para assumir a Presidência do Congresso Nacional, cargo que ocupou, com breve intervalo, até janeiro de 2013, quando foi substituído por Renan Calheiros, seu aliado e alvo de inúmeras denúncias de corrupção.
E assim chegamos ao final desta história, ou melhor, ao seu estado atual, pois a história nunca termina. A conclusão que salta aos olhos é que o governo petista não logrou cumprir um papel sequer progressista neste embate contra a impunidade. Ao contrário, foi o fiador de um pacto das elites para seguir garantindo que o Estado é sempre, em última instância, o braço armado e repressivo da classe dominante e que não se pode, portanto, punir aos que serviram a tão relevante tarefa.
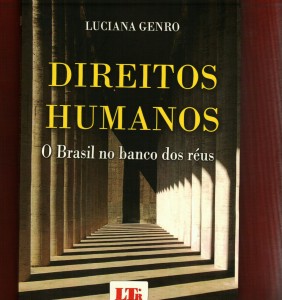 Este artigo foi escrito a partir de pesquisa realizada para meu trabalho de conclusão do curso de Direito, em 2011, que resultou na publicação do livro Direitos Humanos: O Brasil no Banco dos Réus. Ed. LTR, 2012.
Este artigo foi escrito a partir de pesquisa realizada para meu trabalho de conclusão do curso de Direito, em 2011, que resultou na publicação do livro Direitos Humanos: O Brasil no Banco dos Réus. Ed. LTR, 2012.
1 A Justiça de Transição envolve uma combinação de estratégias complementares, judiciais e não judiciais, a serem desenvolvidas nas sociedades que transitam de um regime ditatorial para uma democracia burguesa. Podemos elencar como medidas essenciais que compõem as ações da Justiça de Transição: (a) processar, julgar e punir violadores dos direitos humanos ; (b) garantir o direito à verdade e à memória, seja por meio de Comissões da Verdade ou de outras formas de investigar e reconhecer as violações cometidas no passado e, ao mesmo tempo, honrar e relembrar as vítimas por meio de memoriais, publicações e espaços públicos destinados a homenageá-las; (c) promover políticas de reparação para as vítimas, sobreviventes e seus familiares afetados pela violência; (d) promover a reforma das instituições do Estado que cometeram os abusos, reformas conhecidas pelo nome de vetting.
3 http://diplomatique.org.br/artigo.php?id=1520
4 Ação de Descumprimento de Preceito fundamental (ADPF) 153, impetrada pela OAB em 21 de outubro de 2008 questionando a interpretação de que a referida lei anistiou os agentes públicos que promoveram torturas, desparecimentos e outras violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. A ADPF foi julgada improcedente pelo STF.
5 DOMTOTAL Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Disponível em: <http://www.domtotal.com/direito/pagina/detalhe/22784/convencao-interamericana-para-prevenir-e-punir-a-tortura>. Acesso em: 08 jun. 2011.
6 DHNET. Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/tortura/lex221.htm>. Acesso em: 08 jun. 2011.
7 Vlex. Disponível em: http://br.vlex.com/vid/interamericana-desaparecimento-concluido-271071538. Acesso em: 08 jun. 2011.
8 Conferência Mundial sobre Direitos Humanos – A Declaração de Viena e o Programa de Ação de Junho de 1993, das Nações Unidas Documento DPI/1394-39399-August 1993-20M, Seção II, n. 60.
9 Ibidem, p. 53.
10 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo, 1964-1985. Tradução de Mario Salviano Silva. 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 373.
11 CUNHA, Luiz Cláudio. Operação Condor: o sequestro dos uruguaios: uma reportagem dos tempos da ditadura. Porto Alegre: L&PM, 2008.
12 Greco, op. cit., p. 59.
13 Silva Filho, José Carlos Moreira da. O Julgamento da ADPF 153 pelo Supremo Tribunal Federal e a Inacabada Transição Democrática Brasileira. Disponível em: http://idejust.files.wordpress.com/2010/07/o-julgamento-da-adpf-153-pelo-supremo-tribunal-federal-e-a-inacabada-transicao-democratica-brasileira.pdf. Acesso em: 06 set. 2011.
14 Atas das 161ª. e 162ª. Sessões Conjuntas do Congresso Nacional. Anistia. Congresso Nacional. Comissão Mista sobre Anistia. Documentário organizado por determinação do Presidente da Comissão Mista do Congresso, Senador Teotônio Vilela. Brasília, 1982. v. II, p. 15-27.
15 Ibidem, p. 131.
16 Ibidem, p. 176.
17 Assembleia Legislativa do RS. A Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul – 1964-1985. História e Memória. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do RS / Corag, 2. ed., v. 4, 2010. p. 41-42.
18 Silva Filho, José Carlos Moreira da. O Julgamento da ADPF 153 pelo Supremo Tribunal Federal e a Inacabada Transição Democrática Brasileira. Disponível em: http://idejust.files.wordpress.com/2010/07/o-julgamento-da-adpf-153-pelo-supremo-tribunal-federal-e-a-inacabada-transicao-democratica-brasileira.pdf. Acesso em: 06 set. 2011.
19 CSJN – Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina. Delitos de Lesa Humanidad. Punto final. Obediencia debida. Ley. Nulidad. Facultades Extraordinarias. Disponível em: http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/MostrarSumario?id=315713&indice=13. Acesso em: 8 set. 2011.
20 Voto do Dr. E. Raúl Zaffaroni. csjn, op. cit.
21 SIKKINK, Kathryn; WALLING, Carrie Booth. O Impacto dos julgamentos relativos a Direitos Humanos na América Latina. Journal of Peace Research, v. 44, n. 4, p. 427-445, 2007.
22 Ibidem.
23 United Nations Human Rights. Documento ONU, A/HRC/WG.6/1/BRA/1, 7 de março de 2008. Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/BRSession1.aspx. Acesso em 03 out. 2011.
24 JORNAL Floripa. Disponível em: http://www.jornalfloripa.com.br/brasil/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=14930. Acesso em: 03 out. 2011.
25 Pereira, Anthony W. Ditadura e Repressão: o autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no Chile e na Argentina. São Paulo: Paz e Terra, 2010. p. 26-240.